
Olho na tela e… Não preciso mais do imaginário da infância, o Japão está bem diante de mim, não o de Kurosawa, mas o globalizado, da Coca-Cola e dos McDonald’s. Não, não é preciso perfurar o globo para descobrir as minúsculas bonecas em túnica longa. Nem da tela precisamos. Saí de uma cirurgia. Chove forte. Da porta do Hospital Bandeirantes, observo a tarde escura e mergulhada na água que escorre até o bueiro. Luzes avermelhadas dão um tom soturno no bairro. Uma corrida rente aos paredões antigos da Rua da Glória. Uma esquina, dobrada à esquerda. Outra, derrapada à direita… Japão. Ser estrangeiro carrega essa necessidade de preservar. Os passos miúdos e arrastados com seus guarda-chuvas com jardins japoneses. O Japão de São Paulo mantém vivo o verdadeiro. Pequenino como um haikai. Dentro, o branco; fora, o amarelo. A estranha admiração pelo leque com bonecas de franja curta, pretíssima, os jardins com suas árvores anãs… Outra criança. Outra mulherinha. Outro homenzinho. Outras crianças. Outras mulherinhas. Outros homenzinhos. Bonecas. Sigo a Conselheiro Furtado, Conde de Sarzedas… Bazar das bonecas. Entro no minúsculo salão de luz lilás. Atrás do biombo, bonecas expostas, olhos sem cílios, doces, oleosos, de amêndoa, malpousados à flor da pele. Retiro os sapatos. Escolho uma mesa de canto. São todas baixas. A cortina branca com ideogramas pincelados em negro. Tudo com o toque de uma pena, delicado e leve. O sujeito que me serve tem as sobrancelhas grossas e negras. Peço uma bebida. Aguardo seu efeito. A pinga japonesa logo derruba. Agrada-me uma japonesinha séria, distante, talvez pelo efeito de drogas, entre cortinas de cretone, alegre, de desenhos quase tão japoneses quanto ela. De fora, apenas o ruído da chuva. A luz piscando, luzes elétricas, a japonesa distante. O medo… Sempre me acompanhou. A profissão médica, um disfarce. – Não tem comida para branco. De onde a lembrança? Fez com que recuasse. Saio trôpego. A fome de mulher no sexo. Atravesso o Reino do Pequeno. Lilliput Amarela. Bazar de bonecas. Lembro-me do jovem amarrado à amada viajando pelas quatro estações do ano. Qual o nome do filme? Bonecas… A sutileza também na impossibilidade do amor.
Noturnos… Ruas estreitas, vazias, soturnas. Agora, é uma espécie de medo que começa a cair nos pingos da chuva. Mas aqui tem Shoki. O Caçador de Demônios, como é chamado, ventrudo e poderoso, espanta as criaturas que dão medo… E que tem medo… O poço. Do outro lado, a terra dos brancos, cair dentro do poço, sentido estação Sé, por exemplo!
Caminho pela nova praça da Sé, o imponente prédio da caixa, as placas de propagandas vestidas de gente, do povo mais simples, não somente os aposentados, mas jovens, homens e mulheres. O pátio do colégio, branco e azul, o relógio alemão dos Beneditos – onze longos roncos de bronze – encheu de fantasmas a noite. O ribombar dos sinos atravessa o viaduto Santa Ifigênia amortecido pela argamassa, cai sobre telhados envelhecidos e desaparece rapidamente. Aguardo um canto de onda no côncavo acústico de uma concha… Todos os pianos mudos. Um longo silêncio ocupa os telhados e as ruas. Bairro soturno. Continua o bairro dos bares. Mas sem os alemães tomando chope. Vê-se coxas e seios dividindo vitrine das ruas, homens à procura do sexo mais barato, a pouca luz exibindo sombras e pequenas entradas de hotéis de curta permanência. Se o medo e a música habitavam a noite, agora, o comércio da carne é quem ocupa os espaços. De cada portinhola, saem mulheres com suas roupas vulgares, apertadas no corpo, expondo cada curva ou cicatriz. Aceito o convite de uma luz esmaecida e entro no recinto. Um balcão à direita. Enquanto prepara um aperitivo para um freguês, dirige um olhar desconfiado para mim. Percebo quando sinaliza com a cabeça a minha presença para uma das garçonetes. Tem no rosto o peso da profissão e da maquiagem, no corpo, o cheiro de uma essência vagabunda. Leva-me a uma das mesas vazias, o verniz gasto como o sexo dela, a toalha envelhecida e manchada. Observa-me um tempo. Pergunta-me o que vou querer. Noto uma ambiguidade no modo de se expressar, algo de malicioso nos olhos, mas o que eu queria mesmo era encontrar gente, que a gente nunca viu, parecida com aquele Henrique VIII, ou aquele Burgomestre Meyer, pomposos e estufados, que saíram do pincel quinhentista de Hans Holbein. O que vejo na parede é a pintura de uma mulher desnuda, o sexo quase imperceptível pela sujeira, e o cão empertigado ao lado dela. Há um piano, mas apenas para enfeite, ao lado do palco, onde mulheres expõem seus volumosos seios e nádegas mergulhadas em celulite. Ao meu lado, a jovem caquética aguarda um gesto meu, talvez um tapa em seu traseiro, ou um toque em seus peitos avolumados pelo sutiã. Estranha quando peço um chope. Aceito a cerveja no lugar. Melancolia. Melancolia do sexo. Melancolia da noite. Fora, passa um alemão, passa outro, não passa mais… Além da garoa, chove a miséria.
Carlos Pessoa Rosa
- Poemas de Mário Cesariny – ‘Voz numa pedra’ e outras falas
- Nua, és tão simples como uma de tuas mãos – Poema de Pablo Neruda
- “Sem fim”, “Svalbard” e outros belos poemas — Beth Brait Alvim
- Influência das Comunidades para Edificação de uma Educação Melhor em Moçambique
- “Cosmópolis” – A maestria da escrita de Carlos Pessoa Rosa
- A crônica viva de Fernando Dezena – De Sarney a Paquetá







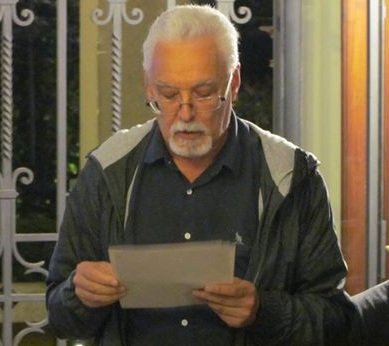
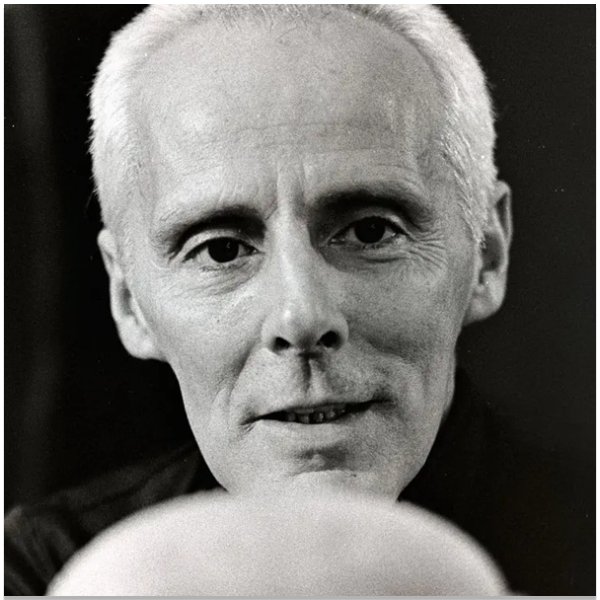







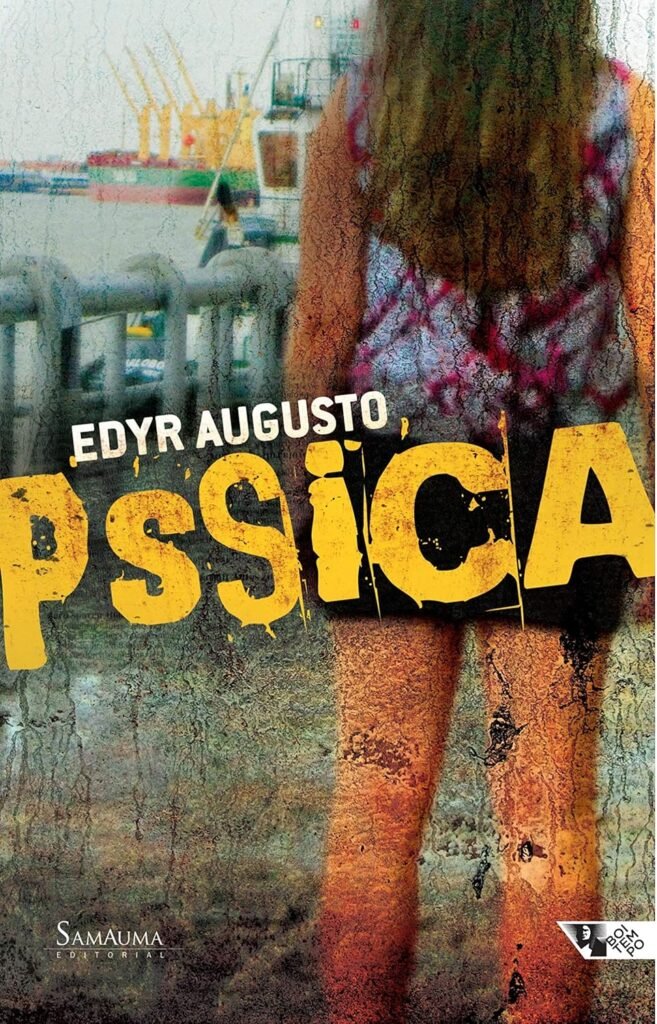
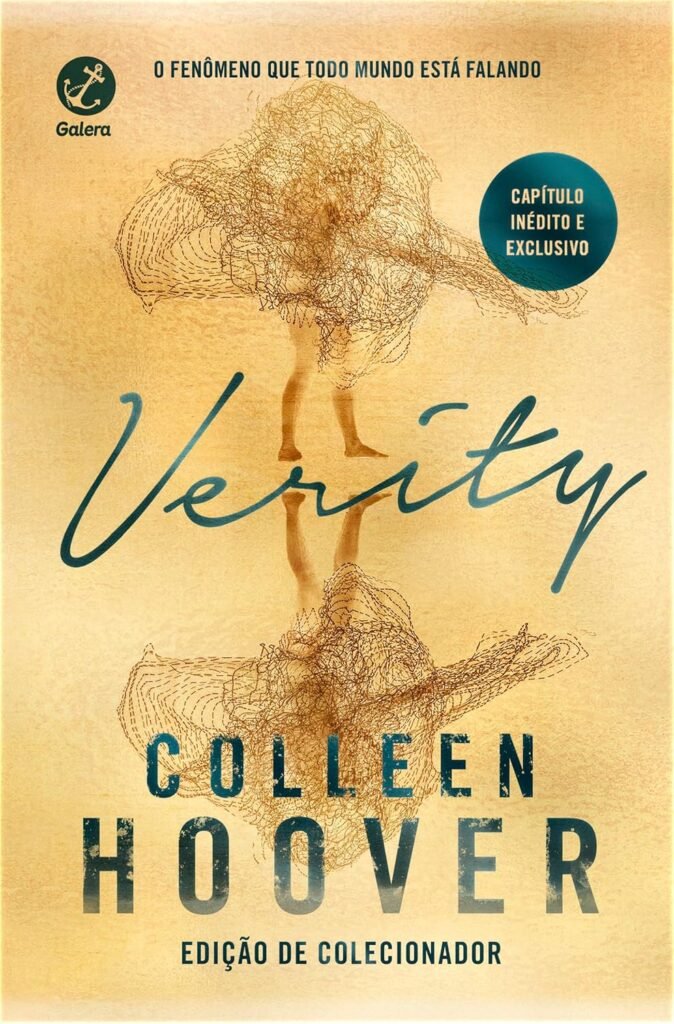




A prosa de Carlos Pessoa Rosa é minha velha e conhecida amiga. Faz tempo que alimenta a literatura. Com propriedade. Com olhar profundo para a dignidade humana. Para a humanidade. Cosmópolis é um retrato que se fixa como arte.