
Resumo: Desde que o homem existiu no mundo, portanto, nesse planeta terra a educação também tomou o lugar num contexto familiar onde os parentes transmitem as regras de boa convivência socialmente aceitáveis para que não existam desrespeitos entre as partes de todas as diversidades culturais das comunidades. A educação, é um dos primórdios passos para que exista uma confiança nas sociedades do mundo. Dado que ela vai trazer um esclarecimento do comportamento adequado seguindo as regras, tradições, rituais de como devem se identificar nas obras de boas convicções sociais.
Indo mais além, tem-se notado nalguns momentos circunstanciais em que essas regras da educação no mundo ou em África particularmente em Moçambique, perdendo os seus focos, seja em forma formal, informal ou não formal, a qual deixa as comunidades Moçambicanas equivocadas sem hoje em dia perceber com clarividência o papel dela na sua inclusão para edificação de um Estado melhor com boas convicções sociais e predominante no desenvolvimento das suas capacidades intelectuais. Para a compreensão dessa paradigma em destaque da geopolítica educacional, insta salientar que o presente trabalho tem como objectivo de analisar e descrever até que ponto o papel da educação na inclusão dos cidadãos Moçambicanos podem contribuir para a edificação de um Estado melhor! E quais são as consequências se não for considerado o papel da educação na inclusão das comunidades Moçambicanas na edificação do seu Estado! E também usou-se a metodologia de consultas bibliográficas usando obras e artigos para o seu desenvolvimento.
Abstract: Since man existed in the world, so on this planet Earth education has also taken the place in a family context where relatives transmit the rules of good socially acceptable coexistence so that there are no disrespects between the parts of all cultural diversity of communities. Education is one of the main steps for confidence in societies in the world. Given that it will bring a clarification of proper behavior following the rules, traditions, rituals of how to identify themselves in the works of good social convictions.
Going further, in some circumstances are noted when these rules of education in the world or in Africa particularly in Mozambique, losing their focuses, whether formal, informal or non-formal form, which makes Mozambican communities mistaken without today until day it perceives with clairvoyance its role in its inclusion to build a better state with good social convictions and predominant in the development of its intellectual capabilities. To understand this educational geopolitic paradigm highlighted, it states that the present work aims to analyze and describe to what extent the role of education in the inclusion of Mozambican communities can contribute to the building of a better state! And what are the consequences if it is not considered the role of education in the inclusion of Mozambican communities in building their state! And has been used articles and books bibliographical consultation for its deployment.
1. Introdução
Onde há educação inclusiva da comunidade, há desenvolvimento, e transformação do homem a ter respeito pelas diferenças existentes em diversas sociedades do mundo, e onde há educação inclusiva da comunidade, há formalidades claras e objectivas, precisas e reconhecimento, valorização das todas as regras, tradições, rituais, culturais e através dela, no contributo do bem estar social é indubitável porque é a partir das ideias, maneiras de boas convicções sociais da comunidade, chega até a ser transformada para o sistema formal que pode condimentar na edificação de um Estado melhor.
Pela falta da geopolítica educacional, pode levar um Estado ao abismo e a falta de respeito pelas dignidades e personalidades passam a ter e a tomar um lugar preponderante entre humanidades de diferentes partes do mundo. Portanto, é isso que leva Moçambique hoje como um dos factores da decadência do seu Estado por falta da educação na inclusão da comunidade Moçambicana para contribuírem na sua edificação estável.
Para o presente trabalho, vai se, e usou-se a metodologia de consultas bibliográficas, usando obras e artigos para fazer descrição e a análise da influencia da comunidade na edificação de um Estado melhor na arena da educação em torno da sua geopolítica e o seu objectivo principal é de analisar e descrever até que ponto a influência das comunidades contribuem na edificação de uma educação melhor em Moçambique.
1.1. Comunidade e a sua Participação Educativa
O sentido de comunidade no presente artigo científico, é o de Cody; Siqueira (1997), onde nas suas abordagens consideram comunidade do entorno da escola, os pais, os professores e os representantes do meio económico, político e social na qual a escola está inserida ou encontra-se onde a sua importância da participação na escola, e de forma que o conhecimento apreendido gere maior compreensão, integração e inserção do mundo pela prática escolar comprometida com a interdependência escola-sociedade tem como objectivo situar as pessoas como participantes da sociedade, ou cidadãos desde o primeiro dia de sua escolaridade concretizando o seu intento duma forma imprescindível que ocorra integração entre elas.
Sendo assim, devo considerar o pensamento lógico do autor acima que de facto quando falamos da comunidade, no fundo psíquico aparece a sua constituição e primeira prioridade dela, como escola e, insta salientar que com o reconhecimento e valorização dos saberes extracurriculares e efetivação de parcerias no trabalho educativo, pode-se atingir o maior contingente de pessoas em sua área de localização onde todos os participantes do processo educativo têm a capacidade de elaboração propostas para a melhoria da educação.
E o tal processo de interacção deve ser pautado no diálogo e na confiança, para que a escola oportunizar “situações de encontro” a fim de conhecer os recursos da comunidade e os aspectos da sua realidade visando à melhoria do ensino e aprendizagem.
Polsby (1974) sustenta que de modo convencional, a comunidade é considerada enquanto uma população que vive limitada geograficamente por um território físico e politicamente pelas suas normas o que por si estabelece um problema, já que decisões externas à comunidade a afectam.
Em acréscimo, diz que mesmo com diferentes formas de distribuição de poder nas comunidades locais que os categoriza em estratificadas e pluralistas, as comunidades desenvolvem seus próprios modos de responder à diversidade das pressões interna e externa.
Sanders (1974) lembra que, de acordo com as definições das Nações Unidas, as comunidades combinam a resistência externa com a livre determinação e o esforço local organizados e, como consequência, buscam atingir seus objectivos de carácter material e imaterial.
Bernard (1974) conceitua a comunidade como um sistema social territorialmente limitado ou um conjunto de subsistemas com funções integradas económico, político, religioso, ético, educativo, jurídico, socializador e reprodutivo que tem uma população residente, cultura material ou equipamentos com os quais operam esses subsistemas.
a comunidade tem uma estrutura normativa, herdada do passado ou conscientemente instituída que se desorganiza quando algum dos seus subsistemas deixam de funcionar efectivamente, o que faz com que não seja um fenómeno sociológico unidimensional fácil de definir ou conceituar (Bernard , 1974)
Olhando para os dizeres do autor acima Bernard, (1974), posso confirmar que a educação em Moçambique actualmente não é de qualidade porque os subsistemas deixaram de funcionar efectivamente por essa razão e instância há necessidade de refazer-se funcionar efectivamente os subsistemas e incluirmos a comunidade para juntos unanimarmos e funcionarmos efectivamente.
O tipo ideal de comunidade na qual não existe desorganização é aquela em que todos os subsistemas funcionam perfeitamente de modo a atender à necessidade de todos com mudanças sincronizadas e compatíveis entre todos os subsistemas. (Bernard, 1974)
Indo mais além, diz que as comunidades modernas, altamente especializadas, tornaram-se vulneráveis a processos de desorganização também estratégica, quando grupos se organizam para demonstrar a falta de consenso entre governados e governos em relação a alguma situação.
O sistema social da comunidade, é predominantemente impessoal e anónimo no qual cada um busca precaver-se em relação ao outro (Miner,1974). Assim, enquanto na sociedade as relações se caracterizariam como mecânicas e competitivas, na comunidade seriam de natureza orgânica e cooperativas.
Nesta vertente constitutiva de ideias, subscrevo-me com as elucidações dos autores acima porque de facto quando há exclusão de uma sociedade ou por outro de uma comunidade, nada sai certo e nem o desenvolvimento por simples exclusão porque só os órgãos escolares, ou professores representando o governo, nada se fará do melhor porque as ideias do senso comum são válidas para colocar em prática a ciência.
Neste contexto as escolas têm como compromisso nas comunidades oportunizar condições para sua clientela construir conhecimentos, atitudes e valores, contribuindo na formação de cidadãos críticos, éticos e participativos nos contextos que integram. No entanto, que requer superação de obstáculos Atié (1999, p. 3). Em seguida, comenta que o desafio que se coloca diante da escola é fornecer educação e informação para toda a vida precisando assim romper seus muros e estar plenamente inserida no seu tempo e na comunidade a qual pertence.
A participação educativa da comunidade como pode-se ver no subtítulo, o aprendizado do aluno não depende só do professor, mas sim de ambas partes do professor na sala de aulas e da comunidade como o exterior.
Em conformidade com o Oitavo (8) Módulo da Direcção Geral de Educação (2017, p.2), não se deve alcançar o aprendizado de elevado nível, se as famílias e a comunidade não forem incluídas no processo e se as experiências dos alunos não forem trazidos para o processo de ensino e aprendizagem.
Com essas elucidações do autor acima em epígrafe, primeiro concordo com elas dado que o professor ou o corpo docente, não deve pensar que o aluno não sabe algo, há necessidade de o professor não ser expositivo ou não falar sozinho mas sim, deve através do tema a abordar fazer uma provocação aos alunos sobre o que vai acontecer ou dar na sala assim o aluno pode referenciar a temática com algo ou uma aula que já tinha tido antes seja com seus progenitores, ou na comunidade por ter participado nas aulas de explicações do bairro e dali, o professor pode avançar depois de ter comprovado até que ponto o aluno se engaja na sala. E só quem pode e deve fazer isso, é um professor que planifica as suas aulas porque sabe como vai e com quem vai se lidar com ele e onde vai-se lidar neste caso na escola.
Desta feita, o conhecimento científico do professor vai dispor de evidências sobre a importância da participação das famílias e de outras pessoas da comunidade, nas escolas, em acordos de cooperação, entre todos os diferentes intervenientes educativos. Onde com isso, centra-se numa das formas de participação que propicia melhores resultados educativos positivos almejados pela participação educativa de famílias e outros membros da comunidade educativa como: vizinhos, associações e entidades culturais, pessoal não docente, voluntariados.
1.2. Formas de Acção Educativa para o Sucesso na Educação
Flecha (2015), menciona três (3) formas de acção educativa para que se tenha um sucesso na arena educativa tais como: leitura dialógico, extensão de tempo do aprendizado e comissões mistas.
1.2.2 Extensão do Tempo de Aprendizagem
A extensão do tempo de aprendizagem consiste numa Acção Educativa de Sucesso para a inclusão educativa (Flecha, 2015).
Nas Comunidades de Aprendizagem, a extensão do tempo de aprendizagem é aquela que vai para além do horário escolar normal, através de ofertas formativas para todos os alunos de Acções Educativas de Sucesso como: tertúlias dialógicas ou biblioteca tutorada são realizadas tarefas escolares, resolução de dúvidas, optimização da aprendizagem em algum aspecto ou matéria mais concreta oferecendo a possibilidade de acelerar aprendizagens para todos os alunos e, ao mesmo tempo, ajudando aos alunos mais desfavorecidos ou com maiores dificuldades a obter melhores resultados (Flecha, 2015).
Para Flecha, Soler & Valls (2008), nestes espaços de extensão de tempo de aprendizagem, participam adultos como professores e, ou voluntários que favorecem a aprendizagem, uma vez que aumenta o número e a qualidade das interacções e contribui decisivamente para ultrapassar a segregação, bem como alguns atrasos e realizar as actividades em tempos não lectivos nas quais por vezes, parte dos alunos são segregados fora da sala de aula.
Em acréscimo, ressalta que o caso da Biblioteca Tutorada que se prolonga para além do horário escolar normal de tarde ou durante os fins de semana, é tão proeminente para que os alunos e suas famílias disponham de um espaço de aprendizagem livremente acessível e gratuito. Embora seja possível apresentar vários formatos, o aspecto importante é que se cria um espaço aberto à comunidade onde todas as pessoas sobretudo os alunos possam encontrar recursos para aprender e trabalhar as matérias instrumentais como: a matemática, línguas e ciências com o apoio de todas as pessoas que colaboram neste espaço.
Uma escola que se transforma em Comunidade de Aprendizagem, sonha em dispor de um espaço para que os estudantes possam fazer os trabalhos de casa, a comunidade educativa pode chegar a um acordo por consenso que isto é uma prioridade, uma vez que não existe nenhum espaço como esse no bairro (Flecha, 2015).
Portanto, olhando para as elucidações dos autores acima, concluí que abrir a biblioteca da escola ao bairro pode ser uma forma de garantir que a escola coloque os seus recursos à disposição dos alunos e das suas famílias para que esses estudantes ou alunos possam ir para esse espaço depois da escola, e isso vai ajudar ao meu país de Moçambique a ter uma educação melhor ou de qualidade.
Indo mais além, com essa efeméride e se o meu país de Estado de Direito Fundamental Democrático seguir e fazer valer esses princípios destacados no presente artigo científico, vai reconquistar e equilibrar a educação sofisticando as nossas famílias e comunidades a fazerem acontecer que as famílias vão à biblioteca da escola para acompanhar os seus filhos enquanto estes fazem os trabalhos.
Para colmatar, se o meu país de Moçambique usar desses meios da presente pesquisa, transformando as escolas Moçambicanas influenciadas pelas Comunidades de Aprendizagem, e voluntários que pela colaboração com os órgãos escolares podem encarregarem de abrir Bibliotecas Tutoradas pela colaboração dos órgãos escolares como forma paradigmática essa de ajudar quem precisa aprender, e formalizando os horários que podem ser muito diversificados, tal como as suas actividades como por exemplo serem abertas nos finais de semanas com as seguintes actividades: ler um livro, fazer os trabalhos de casa ou tirar dúvidas, ou até jogar xadrez, aprender línguas, desta feita no meu país de Moçambique a educação será inclusiva e influenciada pelas nossas famílias e comunidades e teremos um ensino ou uma educação melhor.
1.2.3. Leitura Dialógica
Valls, Soler e Flecha (2008) definem a Leitura Dialógica como o processo intersubjectivo de ler e compreender um texto, relativamente ao qual as pessoas aprofundam as suas interpretações, reflectem criticamente sobre o mesmo e sobre o contexto e intensificam a sua compreensão leitora através da interacção com outros agentes, abrindo assim possibilidades de transformação enquanto pessoa leitora e como pessoa no mundo.
Indo mais além, diz que a Leitura Dialógica para além das aprendizagens conectadas com a leitura, baseadas na relação entre a pessoa que lê o texto escrito que se foca em analisar e optimizar os processos cognitivos individuais da leitura, a perspectiva dela situa-se no quadro das teorias de aprendizagem e da psicologia da educação que realçam as interacções e inclui também, para além da relação do leitor com os professores, outras pessoas do meio.
A Leitura Dialógica propicia uma compreensão social do ato de ler concebendo-o como um processo intersubjectivo e partilhado que inclui outras pessoas e contextos presentes na vida dos alunos, para além da escola. Por conseguinte, o aspecto central são as interacções e diálogos que são produzidos entre os leitores, a partir do texto (Flecha, Soler, & Valls, 2008:73).
Em acréscimo, salienta que a Leitura Dialógica possibilita reforçar a sua compreensão leitora, aprofundar a interpretação literária e reflectir criticamente sobre a vida e a sociedade e por sua vez, gera possibilidades de transformação pessoal e social.
Para Flecha (2015), o modelo de Leitura Dialógica pressupõe mais espaços de leitura e escrita em mais tempos e com mais pessoas como por exemplo: nas aulas com Grupos Interactivos, faz-se a Leitura Partilhada, na escola portanto na Biblioteca Tutorada, aulas de estudo, aulas digitais com tutoria, e na comunidade, Formação de Familiares, leitura em casa, assim se concretiza a prática da Leitura Dialógica de um modo mais diversificado partilhado e coordenado entre a escola, as famílias e a comunidade educativa.
Estes mais tempos deverão ser uma prioridade desde os 0 aos 18 anos através da organização de actividades para além do horário lectivo, aos fins de semana e nas férias para os alunos e suas famílias se integram de forma benéfica na aprendizagem de outras áreas do currículo (Flecha, 2015).
Este aumento das interacções dos espaços e dos tempos de leitura tem um efeito crucial no desenvolvimento das competências comunicativas que se repercute de
Alguns espaços de multiplicação da leitura tais como:
Grupos Interactivos com leitura;
Actividades de interacção com leitura nas aulas (entre alunos do mesmo ano, de outros anos, com o voluntariado);
Actividades na biblioteca com tutoria; aula de estudo com tutoria, aula digital com tutoria, quer em horário lectivo, quer não lectivo, com pessoas da comunidade;
Actividades de promoção da leitura com as famílias (Flecha, Soler, & Valls, 2008).
Olhando e levando as elucidações e ideias constitutivas e paradigmáticas construtivas proactivas dos autores acima, concluí que a Leitura Dialógica pressupõe passar de uma experiencia individual para uma experiencia intersubjectiva a partir das interacções com as pessoas que formam o grupo ou outras do meio, multiplicando os espaços e as relações nas quais se produz a referida leitura assim criando situações mais diversificadas e mais enriquecedoras para as nossas famílias e comunidades Moçambicanas.
1.2.3 Comissões de Trabalho Mistas
Flecha, Soler, & Valls (2008), dizem que as comissões mistas são formadas pelos alunos, famílias, professores, voluntários e, ou outros profissionais de educação integrando a diversidade de perfis que compõem a comunidade educativa.
Em acréscimo, ressaltam que as comissões mistas encarregam-se de realizar as transformações direccionadas para Acções Educativas de Sucesso, cuja implementação na escola é decidida portanto, designadas comissões aprovadas pelo Conselho Pedagógico, organizam-se tendo em conta as prioridades e necessidades que a escola apresenta, ou apresentou para um desenvolvimento das Acções Educativas de Sucesso e, encarregam-se de as realizar, coordenar, supervisionar e avaliar de maneira sistemática.
Neste contexto, são designadas as comissões mistas de seguinte maneiras: Comissão de voluntariado, comissão de aprendizagem, comissão de convívio, comissão de comunicação, comissão de ambientação, comissão de relação com o meio, comissão de reivindicações, comissão da biblioteca (Flecha, Soler, & Valls, 2008).
Levando as ideias dos atores acima que discutem sobre o teor, concluí que as comissões mistas permitem uma abertura continuada a novas propostas e mudanças mediante debates, consensos, diversidade de opiniões partindo de todas as perspectivas sem imposição das situações de poder ou de profissionais da educação, dado que a inclusão educativa das famílias e comunidades em colaboração dos órgãos escolares organizados juntos irão reconquistar a educação inclusiva e influenciada para o melhor ambiente democrático do nosso país especialmente Moçambique.
1.3. Participação da Comunidade
Insta salientar que muitas investigações internacionais têm evidenciado os benefícios da participação das famílias e da comunidade para o sucesso na educação (Epstein, 1983; García, 2002; Grolnick, Kurowski, & Gurland, 1999; Henderson & Mapp, 2002; Hill & Taylor, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2001; Pomerantz, Grolnick, & Price, 2005; Weiss, 2005).
Includ-ed (2009, p.45) reitera que a participação da comunidade nas escolas, melhora o resultado ou rendimento académico dos alunos. Em acréscimo, salienta que a colaboração das famílias contribui para a transformação das relações dentro das escolas ajudando a ultrapassar as desigualdades através da optimização de resultados académicos e do estabelecimento de relações de equidade. E por outro lado, está participação, torna-se especialmente benéfica para os alunos com maior risco de exclusão social e educativa, os alunos pertencentes a minoria e os portadores de deficiência.
Para Flecha (2015), a participação da comunidade nas escolas, desempenha um papel muito importante na superação das desigualdades de género na educação, sobretudo através da colaboração dos membros femininos da família e de outras mulheres da comunidade dependendo assim do grau e de forma segundo a qual ela (comunidade educativa) se concretiza.
Levando as ideias dos autores acima que fazem menção sobre a influência ou o papel que a comunidade, e famílias têm para o impacto positivo na educação, concordo plenamente e subscrevo-me concluindo que sem a inclusão das famílias e da comunidade de facto não teremos uma educação de qualidade em Moçambique e há necessidade de sofisticarmos as nossas famílias e comunidades para que juntos concretizamos uma educação melhor assim como se diz que na altura a educação era melhor, isso aconteceu porque houve essa inclusão das famílias e comunidades.
1.4. Tipos de Participações Educativas da Comunidade
Includ-ed (2009), Epstein (1983), fazem menção de existência de cinco (5) tipos de participação educativa da comunidade tais como: Informativa, Consultiva, de Tomada de Decisões, de Avaliação e Educativa. Indo mais além, ressaltam que os últimos três tipos, são os que têm um maior impacto para que se tenha um sucesso escolar almejado.
1.4.1. Participação Informativa e Consultiva
Ambos tipos são comuns de participação activa e actual nas escolas onde as famílias são convocadas para reuniões informativas, ou por órgãos da escola para as as consultar (participação Consultiva).
Indo mais além, ressaltam que a participação informativa, os pais não tomam nenhuma posição, mas sim são transmitidos a informação e as decisões que o corpo docente vai tomando relativamente á educação dos seus filhos. Como por exemplo: anúncio de notas, reuniões de turma (Includ-ed, 2009, Epstein, 1983)
1.4.2. Participação Consultiva
A participação consultiva, ocorre fundamentalmente através de órgãos escolares, nos quais as famílias estão representadas. Todavia, em muitas situações o papel que os pais desempenham nestes órgãos é limitado, portanto não expressam as suas opiniões aprovando ou não as propostas apresentadas (Epstein, 1983).
Indo mais além, reitera que esse tipo de participação educativa da comunidade, frequentemente, o papel desempenhado pelas famílias que funcionam como representantes e numa proporção determinada, não é decisivo ou vinculativo em relação às decisões que são tomadas, e por outro lado, algumas investigações indiciam que este modelo não é acessível a todos os pais e mães, e quem costuma ocupar estes postos de representação são familiares com um certo nível de estudos.
Para colmatar, os autores ainda ressaltam que os dois tipos de participação em si mesmas, têm poucas probabilidades de influenciar o sucesso escolar dos alunos.
Concordando com as explanações dos autores acima que falaram sobre os dois (2) tipos de participações educativas da comunidade designadamente: informativa e consultiva, concluí que como se tem visto e assistido no âmbito de abertura do ano nas escolas somente as propostas dos anos são lidas somente para serem apresentadas e aqui há grande especulações e falta de transparências interventivas de sugestões das famílias e comunidades assim decai a educação inclusiva em Moçambique por só aplicar-se esses só dois tipos de participações educativas da comunidade cá em Moçambique, e eis a razão que não se tem obtido bons resultados almejados nas escolas da nossa comunidade Moçambicana.
Includ-ed (2009), Epstein (1983), dizem que as outras formas de participação que agora vão se abordar, vão para além da informação e da consulta porque elas abrem-se a toda a comunidade e têm um impacto maior nos resultados académicos almejados de desenvolvimento emocional e social e ainda de coesão social. Com essas explicações dos autores, subscrevo-me com essas visões dado que em Moçambique a educação falada, as famílias e comunidades já estão excluídas na participação quotidiana e as coisas públicas educativas estão dispersas e decididas só pelos órgãos escolares e se o corpo docente é incluído é porque não opina e está lá como forma de garantir justificativas dos órgãos escolares, portanto há necessidade de se implementar outros tipos de participação educativa da comunidade para existir desenvolvimento ou uma educação melhor no país.
1.4.3. Participação de Tomada de Decisões
A participação decisiva consiste na participação das famílias e da comunidade, nos processos de tomada de decisão sobre questões da escola. Não nos referimos a questões periféricas, mas sim a questões relevantes como actividades lectivas e não lectivas, projectos e prioridades da escola, normas (Includ-ed, 2009, Epstein 1983).
Em acréscimo, salientam que com este tipo de participação, são criados espaços nos quais as famílias e outras pessoas da comunidade se sintam livres para falar, expressar a sua opinião, debater e chegar a consensos com as outras pessoas incluindo o corpo docente em relação ao tipo de educação que se pretende para os alunos. Além disso, ressaltam que quando este tipo de participação é oferecido as famílias e a comunidade educativa também participam na supervisão dos acordos e acções da escola assim como dos resultados académicos obtidos.
Para Includ-ed (2009), diálogo igualitário é fundamental na participação da tomada de decisões: os argumentos das pessoas são o que realmente conta, e não o cargo ou a posição que ocupam na comunidade. Em acréscimo, diz que é deste modo que os processos de deliberação nos quais o diálogo é orientado para procurar os melhores acordos para a educação dos alunos.
Epstein (1983), diz que as assembleias de familiares são um exemplo de participação de tomada de decisão: é uma organização democrática que convida à participação de todas as pessoas da comunidade para decidir questões relevantes sobre o funcionamento da escola.
Levando as elucidações e ideias constitutivas e paradigmáticas construtivas proactivas dos autores acima sobre a participação de tomada de decisões, portanto um dos tipos de participação educativa da comunidade, e comparando com o que acontece e tem acontecendo nas escolas da nossa comunidade Moçambicana, faz grande sentido e diferença porque as famílias e comunidades estão excluídas nesse tipo de participação educativa de tomada de decisões e aconselho aos de Direito Fundamental Democrático a fazerem uma urgente orientação sofisticando assim as nossas famílias e comunidades para aderirem nesse tipo de participação educativa.
1.4.4. Participação de Avaliação
Este tipo de participação, envolve as famílias e outros membros da comunidade na avaliação tanto dos processos educativos dos alunos, incluindo questões do currículo e de aprendizagem como da escola no seu conjunto. Em acréscimo, ressaltam que a participação das famílias e outros membros da comunidade, faz com que sejam contemplados diferentes pontos de vista sobre a avaliação dos alunos individualmente e também, sobre os resultados alcançados pela escola, e estas avaliações conjuntas permitem a optimização diária das acções que são realizadas nas aulas e na escola (Includ-ed, 2009, Epstein, 1983).
Olhando as elucidações dos autores que partilham os seus pensamentos nesse tipo de participação educativa da comunidade, concluí que com esse tipo de participação educativa da comunidade, vai contribuir para com que o meu país de Moçambique alcance os objectivos almejados na arena educativa do Rovuma ao Maputo, do Zumbo e ao Índico superando assim os obstáculos implantados pelos órgãos escolares no país.
1.4.5. Participação Educativa
Por Includ-ed (2009), Epstein (1983), fazerem partilha de ideias, com este tipo de participação educativa, a família e outros membros da comunidade participam activamente no processo de aprendizagem dos alunos como por exemplo: nas aulas em horário lectivo, em actividades fora do horário letivo também, e na sua própria formação em cursos ou processos de formação que respondam aos seus interesses e necessidades.
Flecha, Soler, & Valls, (2008), dizem que este tipo de participação significa conseguir mais recursos humanos que sirvam de apoio à aprendizagem dos alunos permitindo desencadear ações inclusivas que contribuam para melhorar o rendimento e a convivência escolar. Não só, mas também é reforçado o interesse e o esforço pela aprendizagem de toda a comunidade o que tem como consequência melhores aprendizagens para todos.
Levando essas explanações dos autores acima que discutem sobre participação educativa, concordo plenamente com eles uma vez que hoje em dia cá em Moçambique nas nossas escolas Moçambicanas, os nossos pais e familiares só sabem inscrever ou matricular o aluno, portanto não acompanham os seus filhos, mas sim deixam os seus filhos para só lidar-se com o professor, não obstante devemos a partir desse artigo científico, estarmos cientes de que devemos colaborar entre nós professores e as comunidades, famílias para reactivarmos e sofisticarmos os nossos filhos a terem a cultura de querer aprender pelo monitoramento equilibrado em todos ambientes escolares, familiares e das comunidades.
1.5. Impacto da Participação Decisiva, Avaliativa e Educativa da Comunidade
A participação decisiva, avaliativa e educativa tem impacto em questões fundamentais da vida escolar e criam impacto potencialmente importante na aprendizagem e respectivos resultados almejados, dado que as pessoas aprendem em espaços diversificados e através de diversas interacções os alunos têm muitas mais probabilidades de aprender, já que podem recorrer a interacções diversas e a diferentes discursos (Flecha, Soler, & Valls, 2008).
Por outro lado, a participação das famílias facilita a coordenação dos discursos entre as famílias, a escola e outros agentes educativos do bairro, onde juntos tomam decisões com o mesmo objectivo, isto é, melhorar o rendimento educativo e contribuir para que todos os alunos tenham a oportunidade de alcançar o sucesso educativo.
Chegado a esse ponto, concordo plenamente com as elucidações dos autores acima que de facto a participação da comunidade, e da família nas políticas da educação, vai ajudar aos professores, órgãos escolares e alunos a atingirem os resultados almejados “positivos” e a educação inclusiva nessa particularidade é, e deveria ser considerada porque não teremos abandonos e nem desistências nas nossas escolas Moçambicanas.
1.5. Métodos para Ultrapassar os Obstáculos que Possam Ocorrer na Participação das Famílias e da Comunidade
Flecha, Soler, & Valls (2008), dizem que para se ultrapassar os obstáculos que possam ocorrer na participação das famílias e das comunidades para a busca de uma educação melhor, é necessário que-se:
- Ajustem os horários às possibilidades das pessoas da comunidade;
- Incluam a comunidade na tomada de decisão, o que implica deixar de convocá-las para reuniões informativas e passar a convocá-las para tomarem decisões conjuntamente; (Flecha, Soler, & Valls, 2008)
- Criem climas de confiança e diálogo, utilizando uma linguagem que não exclua ninguém, na qual se estabelecem conversas horizontais e igualitárias, em vez de ações verticais nas quais a escola é considerada a perita.
Levando as ideias e explicações dos autores acima, concluí que a participação de facto e a integração, o não impedimento de participação das nossas famílias e comunidades, oferece e dá a possibilidade de participação àquelas pessoas cujas vozes normalmente não são tidas em consideração, e as decisões são tomadas a partir de argumentos de validade e não de poder, já que não se vai interessar do cargo ou da posição de quem opina, mas sim o que interessa são os argumentos de melhorias.
2. Educação
Como pode-se ver, não se fala de educação sem se falar de escola porque há conhecimentos visionários nas pessoas que a educação está somente na escola. Todavia, acredito que com o presente artigo e com explanações aqui trazidas vão e estão a fazer entender que a educação não está só na escola como as pessoas pensam, mas sim a educação está no seio da população como comunidade e família que carece de uma colaboração com o governo para concretizar-se a educação incluindo o empirismo e a ciência valorizando as suas aplicabilidades essenciais na vida quotidiana do homem.
Barradas (2012), diz que uma educação de qualidade é construída por todos os envolvidos sejam pais, professores e comunidade escolar requerendo o envolvimento e a responsabilidade deles, assim como acções precisam ser feitas para o desenvolvimento das pessoas observando a relação dos alunos com a escola e suas estruturas, currículo, metodologias e avaliação, acrescentando que a escola deverá analisar a realidade de cada família.
3. Considerações Finais
Após as leituras de diferentes livros e obras patentes no presente artigo científico, concluí que para que a educação tenha qualidades, e ou se torna melhor em Moçambique, carece de participação das famílias e das comunidades na organização da escola e nos próprios processos educativos para assim melhorar a relação entre familiares, entre a escola e o bairro, e devem ser reforçadas relações de solidariedade, cumplicidade e amizade que beneficiam os alunos, as famílias e o conjunto da comunidade, e também isto permitirá prevenir e resolver os conflitos de forma mais eficaz uma vez que os alunos, os professores e as próprias famílias ou outros agentes da comunidade dispõem de outros recursos e interagem para dar resposta a problemas de convivência ou de outra natureza. Por outro lado, concluí que as relações mais igualitárias com as famílias e outros agentes educativos da comunidade contribuem para superar desigualdades e promover modelos alternativos dos dois géneros, e com a participação da comunidade é possível detectar, prevenir e actuar em casos de violência e problemas de convivência. Em acréscimo, insta salientar que esta transformação das interacções na escola, com a família e comunidade, pressupõe uma fonte de motivação e de criação de sentido para os alunos. No entanto, é mais notória no caso de minorias grupos vulneráveis e, no final, esta implicação afecta de um modo positivo o rendimento académico, a inclusão social dos alunos e a coesão social. Nesta vertente constitutiva, sugere-se que se reimplante a promoção de actividades culturais aumentando as interacções entre os alunos, assim como com os professores, a família e outros membros da comunidade, para optimização da aprendizagem e na aquisição e desenvolvimento da competência comunicativa entre os alunos para garantir uma educação melhor e inclusiva no nosso país, sem deixar de lado nenhum que quando temos uma comunidade, temos educação dentro dela como as regras de convivências sociais e comunitárias que podem influenciar benevolamente e positivamente no processo de ensino e aprendizagem de um Estado como um sistema e escola, como o seu subsistema.
4. Referências Bibliográficas
Atié, L. (1999). Editorial. Pátio-Revista Pedagógica, Porto Alegre, ano 3, n. 10, p. 3, ago/out.
Barradas, M. T. C. (2012). Envolvimento Parental e Sucesso Escolar: Estudo de Caso. 2012. Tese (Doutorado). Universidade Católica Portuguesa, Portugal.
Bernard, J. (1974). Desorganizacion de la Comunidade. in SILLS, David L. (org.) Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. Madrid: Aguilar Ediciones.
Cody, F; Siqueira S. (1997). Escola e Comunidade: Uma Parceria Necessária. São Paulo: IBIS, 1997.
Epstein, J. L. (1983). Longitudinal effects of family-school-person interactions on student outcomes. In A. Kerckhoff (Ed.), Research in sociology of education and socialization (pp. 101-128). Greenwich, CT: JAI.
Flecha, R., Soler, M., & Valls, R. (2008). Leitura Dialógica: Interacciones que Mejoran y Aceleran la Lectura. Revista Iberoamericana De Educación, (46), 71.
Flecha, R. (2015). Successful Educational Actions for Inclusion and Social Cohesion in Europe. Berlin: Springer.
Includ-ed, C. (2009). Actions for Success in Schools in Europe. Brussel: European Commission.
Miner, H, M. (1974). Comunidad-Sociedad, Contínuos. in SILLS, David L. (org.) Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. Madrid: Aguilar Ediciones.
Polsby, N, W. (1974). El Estudio del Poder em la Pomunidade. in SILLS, David L. (org.) Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madrid: Aguilar Ediciones.
Sanders, I, T. (1974). Desarrollo de la Comunidad. in SILLS, David L. (org.) Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madrid: Aguilar Ediciones.
Marcelino Roque Munine
- Poemas de Mário Cesariny – ‘Voz numa pedra’ e outras falas
- Nua, és tão simples como uma de tuas mãos – Poema de Pablo Neruda
- “Sem fim”, “Svalbard” e outros belos poemas — Beth Brait Alvim
- Influência das Comunidades para Edificação de uma Educação Melhor em Moçambique
- “Cosmópolis” – A maestria da escrita de Carlos Pessoa Rosa
- A crônica viva de Fernando Dezena – De Sarney a Paquetá

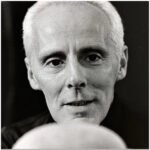


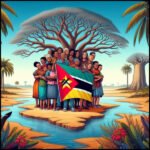



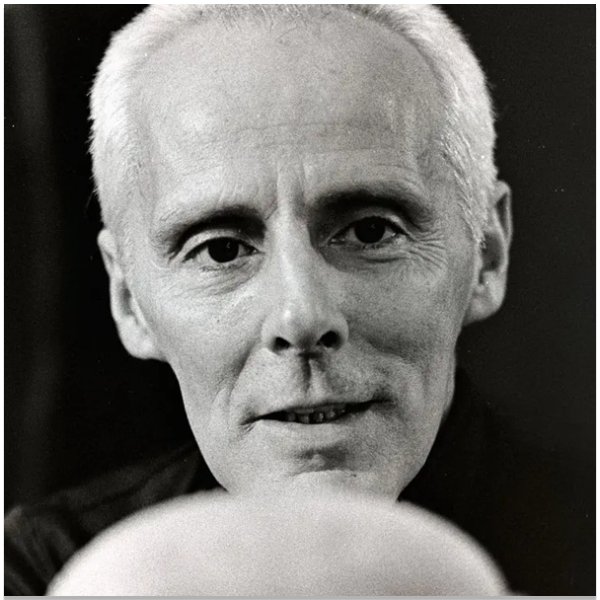


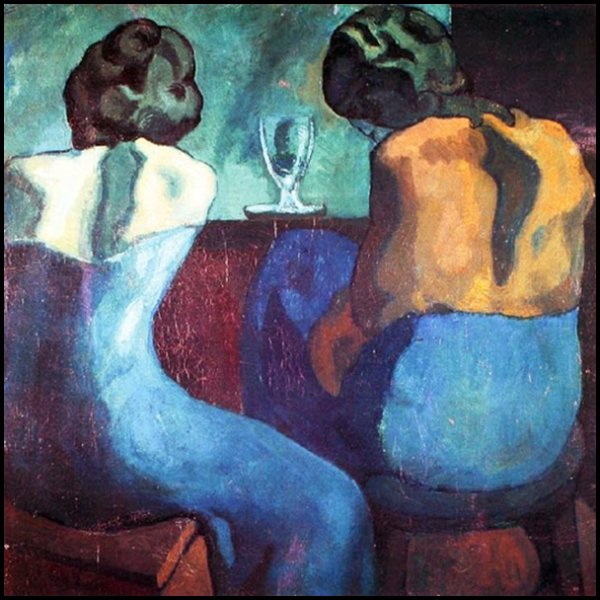


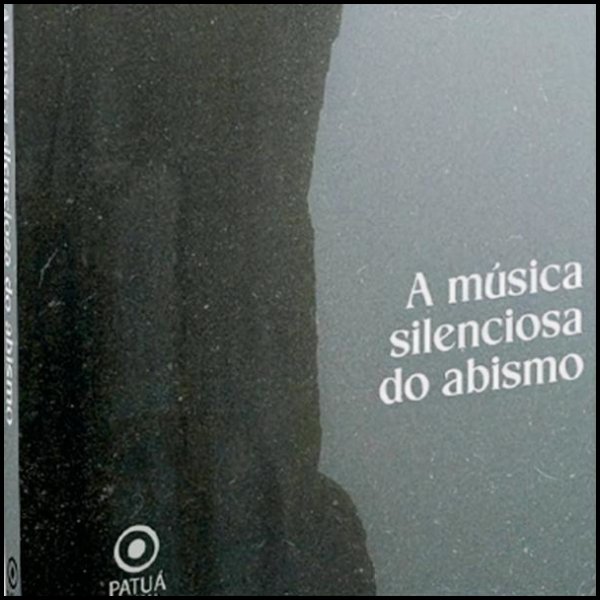

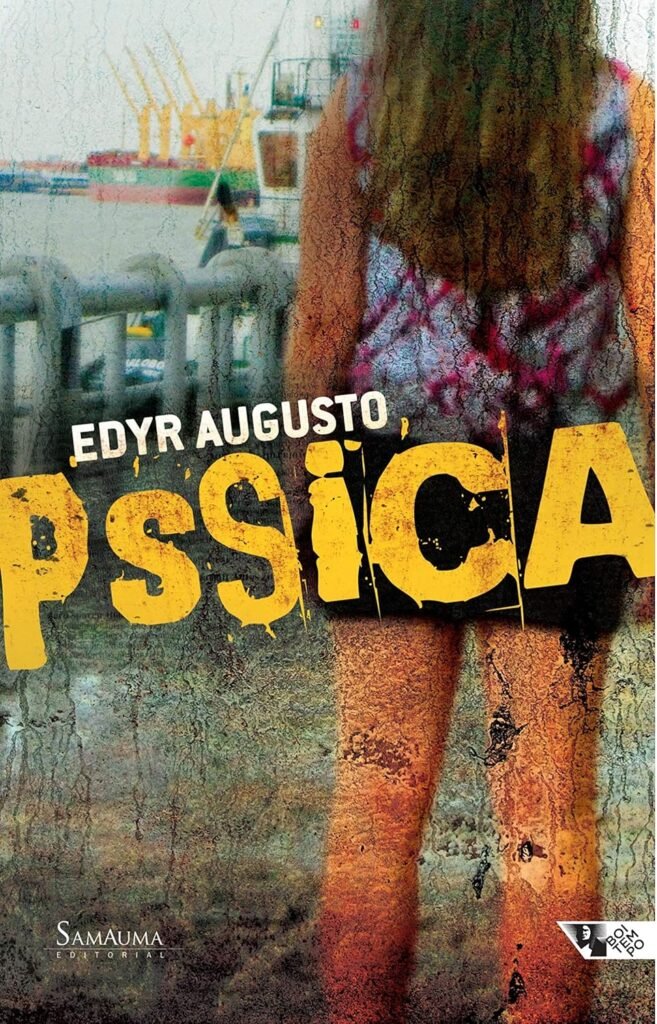
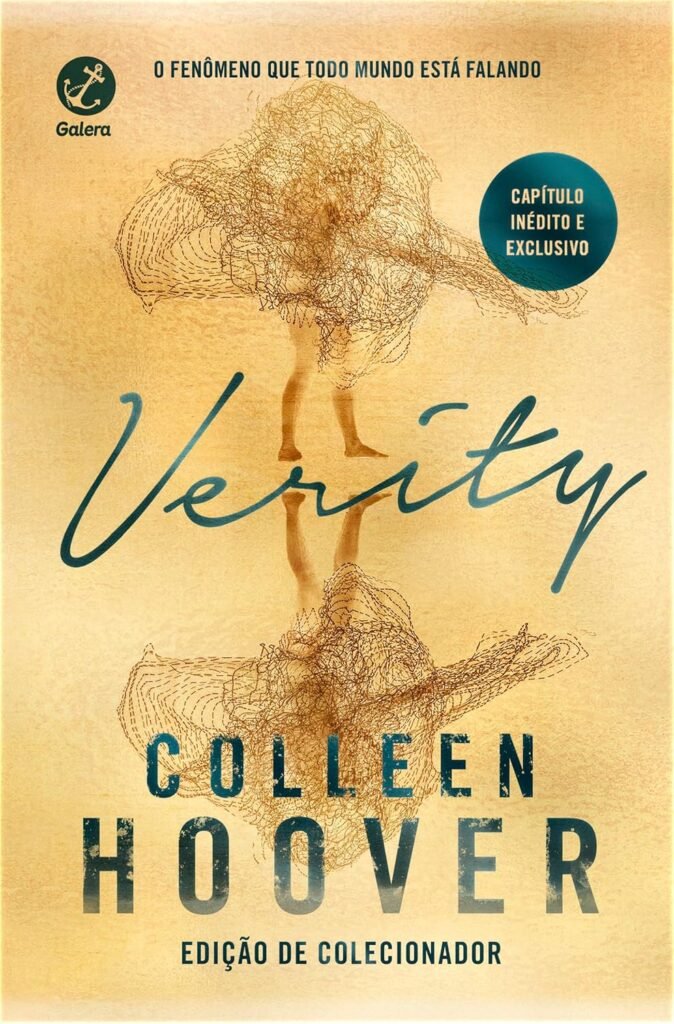

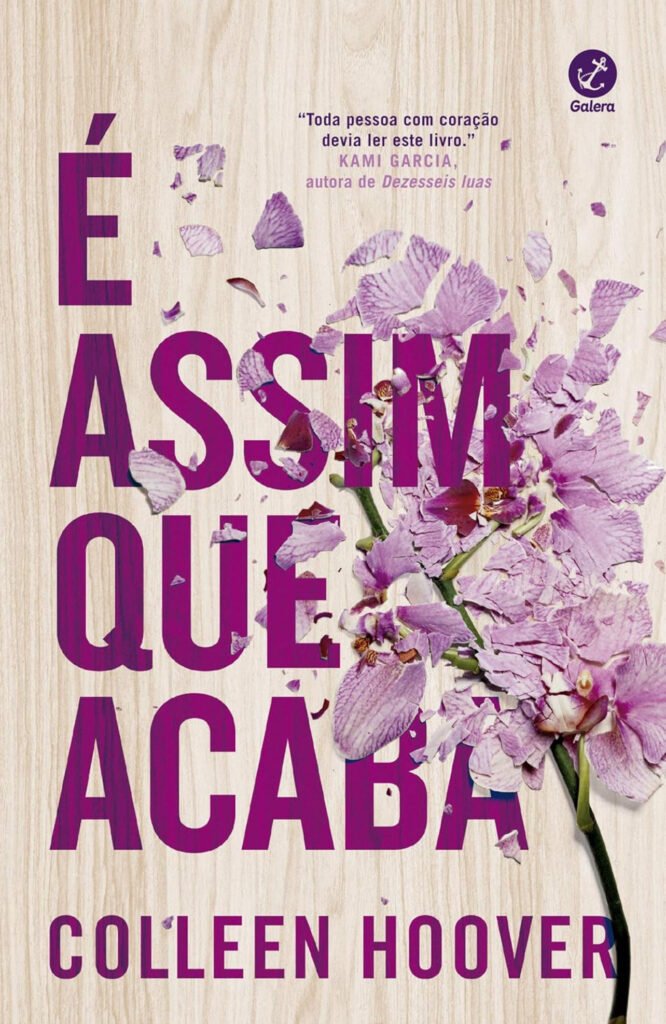
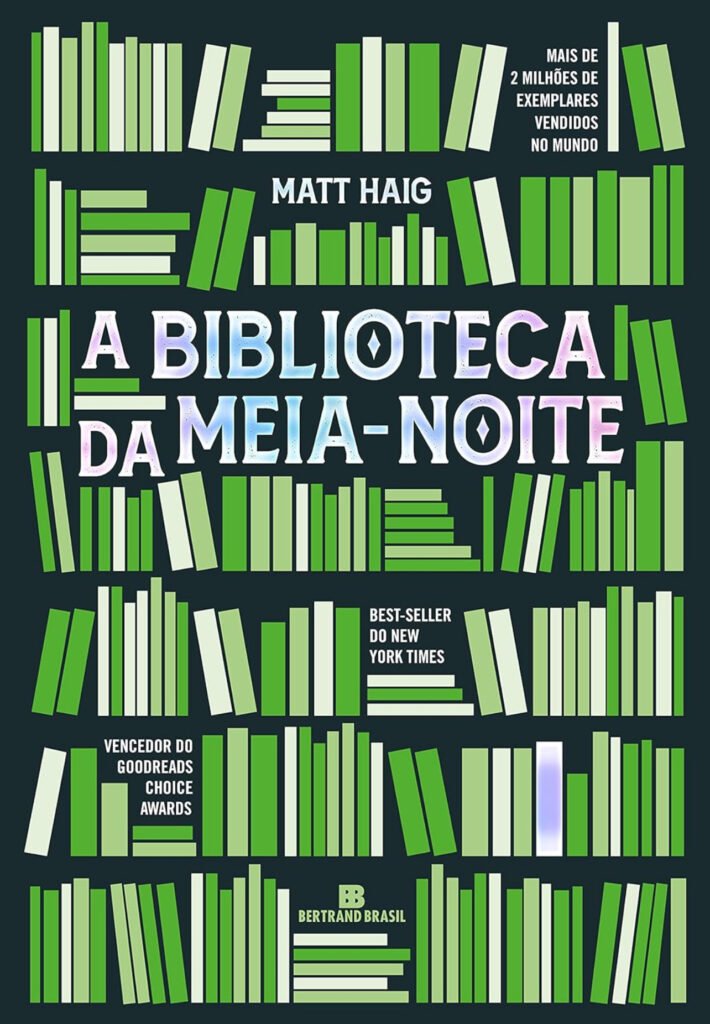
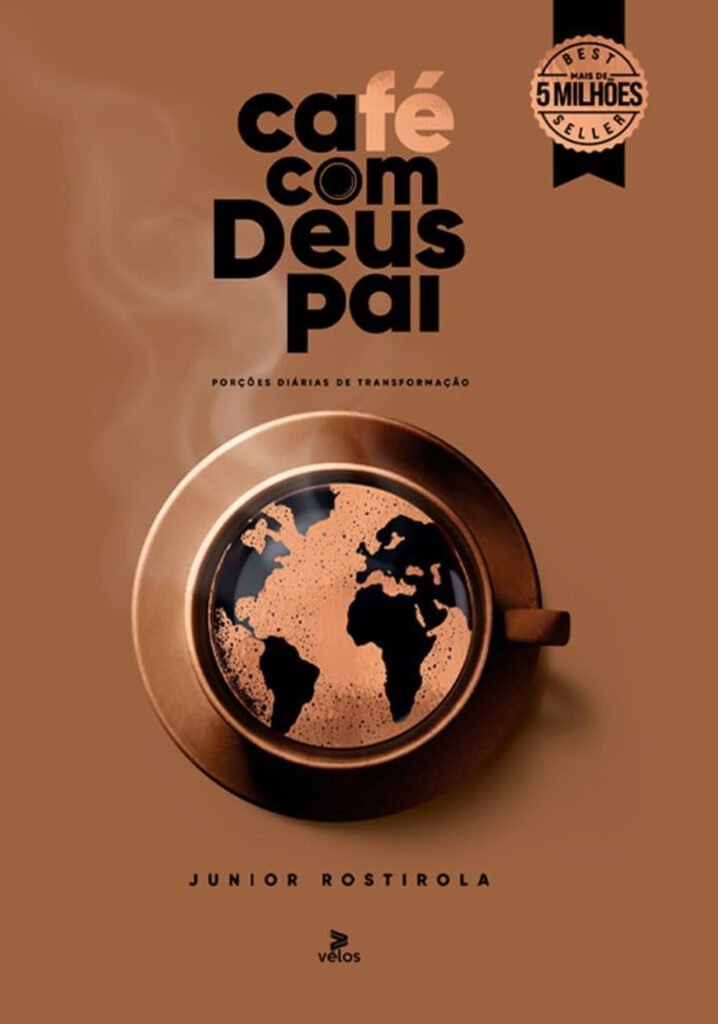
Adorei bastante pela atenção que me tem investido Prezado Preclaro Coordenador Edmir, Que Deus Pai Celestial Omnipotente e Soberano cuide e continue dando-te vontade e muita saúde, força, coragem e sucessos em tua Profissional! Se não fosse Prezado Preclaro Coordenador Edmir, as minhas obras literárias, os meus sentimentos e pensamentos não iriam ser conhecidos foi através da tua partilha e postagem.