
Em memória ao Duck, cão de infância de Pinho Freitas Pinho.
Quando eu e o meu gêmeo Dinho éramos crianças, apanhamos um cachorro nas bermas da drenagem, num dia chuvoso e friorento. Os sucessivos relâmpagos e trovões que o tempo oferecia, assustavam-no sobremaneira que tremia de medo e frio. Levamo-lo às pressas para casa e baptizamo-lo com água morna e sabão, e nomeamo-lo Duck, mas a tia Júlia estranhou o bicho, com aqueles olhos de quem queria matá-lo, mesmo depois do banho, sobretudo depois que o cachorro foi acomodar-se no sofá, naquele cantinho dela preferido, e ela, furiosa como um foguete, explodiu:
— Você Mandinho. . . ! — Chamou ela ao mano Dinho, que estava próximo dela— (Pela nossa semelhança milimétrica entre mim e mano Dinho, ela chamava a todos nós de Mandinho, que era o meu nome). E ela insistiu, chamando: — Mandinho. . . !!! Esta casa é de cachorro?! Aquela almofada que acabei de comprar,— disse ela, apontando a almofada no sofá—, não foi para acomodar bicho de rua. . . ! Vai tirar aquela coisa dali. . . ! — Convertia, assim, o nosso amável e adorável Duck em coisa insignificante, “qualquerizando-o[1]“.
Enfim, era um monte de reclamações que nós não estávamos entendendo nada, mas o meu tio Rungo, pelo contrário, ficava indiferente, calmo e tranquilo, com uma frieza incalculável que podia até congelar o mais quente dos Infernos, pois, para ele, era como se o cachorro não existisse, porque a única coisa que importava para ele eram as suas ferramentas e o seu trabalho de carpintaria, que o exercia ali em casa debaixo do cajueiro.
Alguns anos passaram, e eu e mano Dinho nutrimos um grande afeto pelo cachorro que tornou-se um grande amigo, de tal modo que, nas nossas brincadeiras de adolescentes, treinamo-lo a correr, pular e fazer um monte de coisas que, mais tarde, para além de amigo inseparável, tornou-se para nós num guarda implacável,— talvez um Anjo—, o nosso companheiro das longas jornadas de aventura no mangal, onde também treinamo-lo a nadar naqueles salgados riachos.
O Duck, já crescido, passava a noite no pátio da casa, guarnecendo a casa e a todos nós, protegendo-nos desse modo de invasores e larápios que já povoavam pela noite em todo o bairro. Entretanto, nessa dura jornada de guarda, o nosso Duck tinham também os seus companheiros noturnos, que ora brigavam entre si, ora brincavam, e tais companheiros eram nada mais e nada menos que o Lobo, e a Faísca, cães da vizinhança, que faziam tripla com o Duck, e eram um autêntico terror para quem ousasse passar à altas horas pela nossa rua, a que a um dado momento nomeamo-la, nas brincadeiras, de Avenida Duck Esperto. No entanto, o terror não só se instalava nas pessoas que passassem por esta “avenida”, mas também em outros cães que decidissem dar as voltas por lá, que era frequente ouvir-se vários e longos latidos pela noite, seja por causa de brigas entre cães, ou conflitos entre os transeuntes e a tripla, — o Duck, a Faísca, e o Lobo. Mas, nesse momento, a tia Júlia, que rejeitara o Duck outrora, já nutria certa simpatia para com ele, visto que salvara-nos várias vezes de roubos e furtos que eram frequentes acontecerem pelo bairro, e só os nossos vizinhos e nós escapavamos das incursões dos malfeitores.
Certa noite, porém, á meia noite, inesperadamente, a nossa queridinha “Avenida Duck Esperto” transformou-se num cenário de disparos. Mas ouviu-se primeiramente um som estrondoso, um arrombamento: era a casa vizinha, do outro lado da rua, sendo invadida, e era a de um Inspector da Polícia. Pouco tempo depois do arrombamento ouviu-se o primeiro disparo:
“— O quê está acontecendo?” — Perguntei de mim para mim, em pensamentos. Acordei da cama, curioso, para desvendar o ocorrido, à distância, mas antes que espreitasse por entre as cortinas da janela, com vista para a rua, tentei acordar ao mano Dinho, sussurrando baixinho:
— Mano Dinho, mano Dinho! Acorda! — Mas ele estava num sono profundo, roncando feito trator. Portanto, não tendo o Dinho acordado, caminhei devagarinho feito camaleão até à janela, e abri cuidadosamente a cortina, e senti uma frescura entrando pela fresta da janela, e tal frescura rimava com a palidez do leitoso luar derramado sobre a noite. Uma noite que fingia ser calma, pois nem se ouvia o habitual latir da tripla (Duck, Lobo e Faísca). Estava calmo e fresco, até que ouvi o segundo disparo. Fui acordar de novo ao mano Dinho, depressa:
— Mano Dinho, está a dormir? Guerra!
— Guerra? De quem? Ah!?— Perguntou ele, atordoado.
Mano Dinho, que não gostava de ser acordado, levantou-se da cama estremunhado, mais tonto que a própria tontura. Continuou falando, atrapalhando-se na própria fala, mas eu o mandei calar, apontando a janela, mas ele nem tinha entendido ainda o que estava acontecendo, até ouvir uma rajada de tiros, do outro lado da rua.
Puxei-o pelo braço, meio agachados, até à janela e, por entre as cortinas, pudemos notar um estranho movimento de dois carros e alguns homens. Eram eles, os meliantes, saindo do quintal da casa do Inspetor da Polícia, dos quais três deles estavam armados. Seguidamente entraram nos seus carros e desapareceram muito rapidamente, mas não tardou que ouvíssemos gritos de pedido de socorro vindos da tal casa. Outros vizinhos saíram dos seus aposentos onde, aquartelados pelo medo, tinham ouvido os sucessivos disparos, e aproximavam-se do local, um por um.
Enquanto isso, em casa, o tio Rungo entrou subitamente pelo nosso quarto, sem pedir licença, e encontrou-nos grudados à janela, observando lá fora:
— Saiam daí, seus malucos! Querem morrer, não é? Se uma bala perdida vos achar aí. . . ? Saiam daí! — Ordenou o tio Rungo, que obedecemo-lo, apesar de desqualificar-nos como pessoas, chamando-nos de malucos, e demonstrar esse espírito protector tardiamente, após toda a tempestade de tiros que tínhamos visto pela janela.
Lá fora as vozes dos moradores do quarteirão foram se aglomerando no pátio do Inspector da Polícia, engrossando cada vez mais, comentando e lamentando sobre o sucedido. Porém, o que os meliantes fizeram lá dentro, com o Inspetor e a sua família, ficou em segredo entre os “mais velhos”, quer dizer, entre os adultos, mas quase todo o mundo sabia que as incursões dos “mal-feitores” eram tanto violentas quanto desumanas que chegavam até de violar, e violentar, que algumas das vezes deixavam até marcas indeléveis com ferros de engomar, facas, ou outros instrumentos contundentes. No entanto, uma curiosidade se instalou em meus pensamentos sobre o paradeiro dos três cães, que sempre nos protegeram de incidentes como esse, mas não encontrei resposta.
Pela manhã cedinho, após a limpeza matinal no pátio, notamos claramente que nenhum dos cães estava em casa. Nem na nossa casa, muito menos na vizinhança, feito que reuni os miúdos da vizinhança, e junto com o mano Dinho fomos procurar o Duck, a Faísca e o Lobo. Procuramo-los por tudo quanto fosse canto onde era provável encontrá-los, até no canil improvisado em casa, mas não os encontramos, e sim achamos pedacinhos de carne fresca,— diga-se restos—, entre flores, perto duma cerca de madeira, numa das casas vizinhas. Remexemos as flores com uma vara, para ver se haviam mais vestígios, mas nada encontramos, e mano Dinho comentou:
— Isto aqui não é carne de cão.— Entreolhamo-nos uns aos outros, e concordamos com ele. No entanto, mesmo sabendo que aquilo não era carne de nenhum cão, pairava dúvidas entre nós, até que meia hora depois, sentados então nos bancos de concreto duma lanchonete do bairro, ouvimos frouxos latidos vindos dum contentor de lixo, num local onde tínhamos passado várias vezes. Corremos logo para o local e encontramos os três lá, o Lobo latindo, o Duck debilitado, e a Faísca aparentemente morta.
Retiramos os três do contentor de lixo e deixamo-los no chão, e o Lobo, com um tímido vigor, continuava ainda latindo para um “inimigo invisível”. Mas enquanto carregávamos os dois, o Duck e a Faísca, notamos que esta última, que presumiramos que estava morta, afinal estava viva, pois sentíamos o calor do seu corpo, dando algum brilho ao seu olhar, mas sem energia para caminhar, assim como o Duck, que se limitava apenas em rosnar.
Poucos minutos depois, diligenciamos uma carinha-de-mão e carregamo-los os dois (o Duck e a Faísca) até ao canil em casa, enquanto o Lobo seguia-nos andando, latindo. Entretanto, ficamos sem saber ainda como os três cães entraram no contentor de lixo, e mais do que isso, ficamos também sem saber por quê eles estavam sonolentos e enfraquecidos. Pairava entre nós um mistério, um enigma que carecia de esclarecimento, mas deixamo-los alí, no pátio de casa com a tia Júlia e, após algum tempo, fomos nos preparar para ida à escola.
Meses passaram e os três cães, enérgicos, implacáveis e velozes, continuaram nos protegendo de possíveis meliantes que tentassem “visitar-nos” de dia ou na calada da noite, de tal modo que a nossa rua tornou-se a mais segura do bairro, apesar do incidente dos disparos na casa do Inspetor da Polícia, mas tal tranquilidade terminou pouco tempo depois quando certo dia encontramos os três cães mortos deitados na drenagem, provavelmente envenenados, pois encontramos nas imediações da drenagem pedaços de carne e restos de comida espalhados.
Levamos os três cães para enterrá-los num dos terrenos abandonados na vizinhança, de tal modo que organizamos o que era necessário para o efeito: pás, carinha-de-mão, e flores. Sim, os três mereciam os devidos perfumes e consideração, mas após enterrarmos a Faísca, e o Lobo, com direito até de orações, e flores, como disse anteriormente, o mano Dinho teve a “brilhante” ideia de enterrarmos o nosso amável Duck “condignamente”. O que ele chamava de “condignamente” era nada mais e nada menos que enterrá-lo no pátio de casa, num caixote.
Fomos para casa e, desobedecendo as então rigidas ordens do tio Rungo, invadimos o seu ateliê, onde guardava tábuas e suas ferramentas de carpintaria, e dentre as várias caixas de ferramentas que tinha, escolhemos uma antiga, que por coincidência não haviam ferramentas, e sim revistas e jornais velhos. Momentos depois levamos o finado Duck para o caixote, deitamo-lo por cima de tais revistas e jornais, cobrimo-lo com um pano antigo, e enterramo-lo ali no fundo do pátio, perto do seu canil.
No dia seguinte, porém, ao anoitecer, vimos o tio Rungo muito preocupado, procurando por algo no seu ateliê. Porém, após algum tempo, ele sentou-se num banco de madeira no pátio da casa, e chamou-me, nervoso, gotejando impaciência:
— Mandinho!!! — Demorei alguns segundos em responder, avaliando o seu nível de frustração, mas ele continuou chamando, irritado: — Você Dinho. . . ! — Fiquei então confuso se era a mim ou ao mano Dinho que ele estava chamando.
— Vocês, cabeçudos! Não estão a ouvir? Onde está a minha caixa?
— Que caixa, tio?— Respondi-o perguntando, calmamente, como se eu não soubesse onde a caixa estava.
— Tenho outros tipos de caixas, senão as de ferramentas?
— No armazém tem várias caixas que . .
— Aquela caixa velha, — ralhou o tio Rungo, deixando transparecer a grandeza dos seus olhos nervosos e, notando que tinha várias caixas velhas, acrescentou, — aquela pintada!
Nesse momento, lancei o olhar e as responsabilidades ao mano Dinho, afinal, foi ele quem teve a “brilhante” ideia de enterrarmos o cão na caixa, então, provavelmente, também teria excelente justificação para o efeito. Mas por quê o tio Rungo queria tanto aquela caixa velha pintada, se tinha tantas outras em bom estado no ateliê?
O mano Dinho ainda gaguejou algumas palavras, querendo justificar:
— É que. . . É que. . . Tio. . .
— É que o quê? Viu ou não viu a caixa?
Mano Dinho apontou o lugar onde tínhamos enterrado o Duck, justificando o paradeiro da caixa, e o tio Rungo perguntou-o sobre o destino das revistas e jornais que estavam na caixa, mas mano Dinho respondeu que estavam lá, também enterrados com o Duck, tranquilamente.
— Vão tirar agora! Rápido! Cabeçudos!
Entreolhamo-nos os dois, eu e o mano Dinho, atónitos, sem saber se o que o tio Rungo queria era a caixa, os papéis, os jornais, ou as revistas, e apelamos que ele ponderasse que fizéssemos tal actividade de exumação no dia seguinte, de manhã, porque havia então anoitecido, mas ele não aceitou, de tal modo que ouvimo-lo murmurando:
— Vocês mexem em tudo que é coisa, não é? Um dia vão mexer numa bomba e explodirem todos, aos pedaços. . . Não conseguem ver uma coisa e não mexer. . .? Essas vossas mãos têm íman?
O tio Rungo saiu do banco aonde tinha sentado até ao seu ateliê, e voltou segurando numa pá e numa enxada, que lançou-as para nós os dois, sugerindo-nos que fossemos exumar o finado Duck lá no seu recanto, porque precisava com urgência o que nós tínhamos levado dele, mas não houve nem tempo para fazê-lo por causa da escuridão e dos chuviscos que começaram a cair, feito que recolhemo-nos até à varanda, mas o tio Rungo, insistente, foi até à sala e trouxe-nos um guarda-chuva, e sentenciou novamente:
— É melhor irem agora antes que piorem as coisas. . . Quero todos os livros intactos, e secos!
Estremecemos. Olhamo-nos, eu e o mano Dinho, procurando um no outro alguma ideia, mas foi a tia Júlia quem nos salvou, chamando-nos para a sala, ralhando:
— Vocês. . .! Mandinho! Dinho. . . Não estão a ouvir? Venham aqui tirar essas roupas do sofá. . . ! Aqui é lugar para deixar peúgas e roupa suja? !
Tia Júlia juntou aqueles vestuários no sofá e deitou-os para o chão, mas nas suas mãos ficou uma peúga, cheirou-a, e arrepiou-se. Arrepiou-se tanto que deitou-a, irritada, para o rosto do mano Dinho e, de perto, pude sentir o “perfume” que a peúga exalava.
O tio Rungo saiu para a varanda, levou a pá e a enxada, e caminhou em direção ao local aonde tínhamos enterrado o cão mas não tardou que ouvíssemos derrapagens de carros em frente da nossa casa. Estremecemos. Pouco tempo depois, a tia Júlia foi até à porta para ver o que estava acontecendo lá fora, mas, antes que a abrisse, foi derrubada logo com um arrombamento de porta. A tia Júlia caiu no chão, estatelada e inconsciente. Três homens mascarados entraram pela sala. Eram altos e fortes e, pela sua altura e fortitude, denotavam invencibilidade. Um deles tossiu, e de seguida acendeu um cigarro, puxou uma fumarada, e expeliu o fumo pelos ares, pelas narinas, à moda antiga. No entanto, apesar da máscara que usava, via-se nos seus olhos surumáticos[2] um Demónio instalado neles.
Pouco tempo depois, quando a tia Júlia recobrava a consciência, mais quatro homens, também mascarados, entraram barulhentos pela sala, “escoltando” com violência ao tio Rungo, que empurraram-no de seguida, e um deles ordenou, prepotente:
— Agora podes falar!
— Eu não tenho dinheiro. — respondeu o tio Rungo, a uma pergunta que lhe tinha sido feito antes, lá fora.
— Não tem dinheiro? — Questionou o miliante fumante— E o quê fazia com esta pá a esta hora, lá fora? Estava a enterrar ou desenterrar o dinheiro?
O tio Rungo ficou em silêncio por uns segundos, mas a paciência dos invasores foi tão pouca que ordenaram-no que saísse fora com eles, para uma “conversa amigável” mas todos nós sabíamos o que isso significava, que caso o tio Rungo não entregasse o que eles queriam, o torturariam de tal forma que ele iria se arrepender de ter nascido. Enquanto uns saíam com o tio Rungo, os restantes encheram-se por todos os cantos da casa, vasculhando em tudo que fosse canto: pela sala, pela cozinha, e até pelos quartos.
Sucedia, porém, que o tio Rungo recebera um cheque de indemnização da empresa CFM— Caminhos-de-Ferro de Moçambique—, empresa aonde trabalhou por vários anos, e que os nossos “visitantes”,— os meliantes—, tiveram conhecimento e, tendo estudado os movimentos dele de idas e vindas ao banco, lojas e ferragens, concluíram que o tio Rungo já havia levantado o tal montante. No entanto, enquanto o tio Rungo saía apertado pelos braços, lado a lado, eu e o mano Dinho tentamos segui-lo numa tímida adolescência, como se quiséssemos ajudá-lo, mas um dos mascarados sacou uma pistola e soprou-a no cano. Fiquei congelado, enquanto o “líquido dos joelhos” escorria nas minhas calças.
Enquanto isso, lá fora, o tio Rungo dava fintas de justificações aos visados sobre o que estava fazendo com aquela pá fora, naquela hora, mas os mesmos não acreditaram nas suas mentiras de tal modo que entraram no seu ateliê, onde guardava as suas ferramentas, e começaram a revirar tudo. Pouco tempo depois, um dos integrantes da quadrilha entrou pela sala, correndo, e ordenou que saíssemos todos: os meliantes, a tia Júlia, eu e o mano Dinho; feito que antes mesmo que saíssemos, ouvimos alguém gritando de dor, lá fora. Era o tio Rungo sendo martelado no pé. Saímos para o pátio às pressas. Enquanto dois deles caminhavam com uma pá e uma enxada para o fundo do pátio para desenterrar o caixote. Afinal, o tio Rungo, para livrar-se da tortura, informara aos meliantes que o dinheiro estava enterrado no caixote, e apontara exatamente aonde tínhamos enterrado o Duck, mas tal informação, para nós estava longe de ser verdade. Mas os “caçadores de tesouros” foram até ao local, e começaram com a escavação, até encontrarem a caixa. Sorriram, satisfeitos. Ali estava a dita caixa, bem pesada. Retiraram-a do buraco, apressados, abriram-na e. . . Espanto! Ali estava o amável e adorável Duck, tranquilo, sorrindo eternamente para o Universo. Sacudiram-no do conforto da caixa, com raiva, mas lá dentro só haviam papéis, revistas e jornais.
Um dos meliantes, furiosamente surumático, deu uma rasteira ao tio Rungo, e este caiu no chão, estatelado, implorando por misericórdia, enquanto o mesmo espalhava a papelada pelos ares, nervoso.
Entretanto, não tendo os meliantes encontrado o dinheiro no caixote ora desenterrado, nervosos, puxaram-nos para dentro e foram quebrando algumas mobílias e janelas, — até que rasgaram o sofá.. Feito isto, sumiram em suas derrapagens e manobras perigosas. Mas, apesar do tio Rungo estar dolorido, voltou para o pátio, e recolheu às pressas os papéis espalhados, e entre eles estava um jornal sujo de terra húmida, que podia ler-se na sua manchete: “Aumenta o índice de criminalidade na cidade”. Segurou o jornal por um instante, pensativo, como se estivesse analisando a notícia, abriu-o de seguida, e retirou nele um pequeno envelope contendo um cheque; tirou o cheque e ergueu-o aos seus olhos na contraluz da pálida lâmpada da varanda para, provavelmente, confirmar se os algarismos e a assinatura ainda estavam ali, visíveis, enquanto o Duck, exumado, sorria eternamente para o Universo.
[1] Qualquerizar— Considerar alguém ou algo como se fosse insignificante.
[2] Surumático— sob efeito de suruma. Suruma: o mesmo que cannabis sativa (maconha)


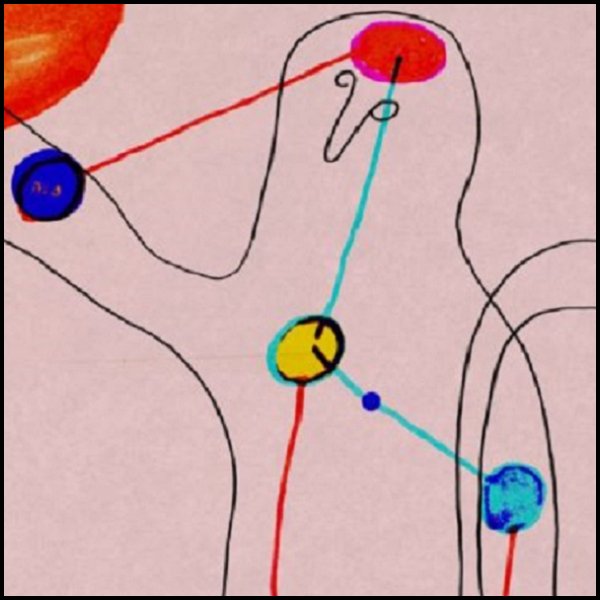

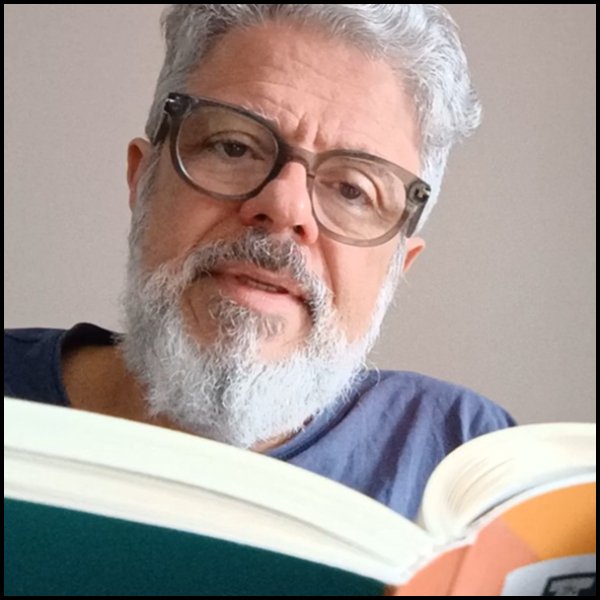





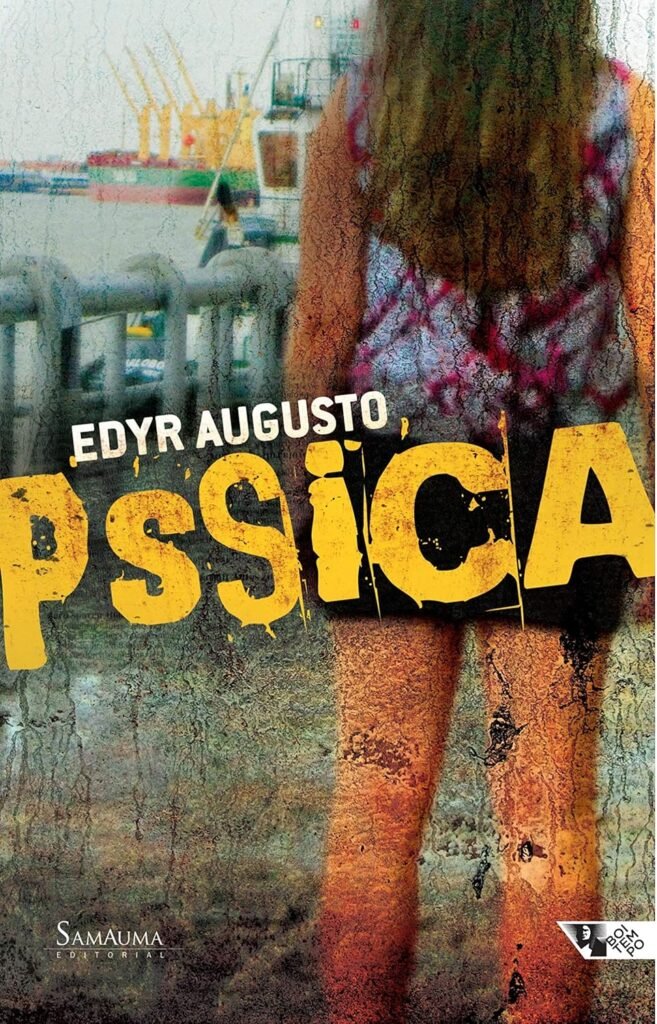
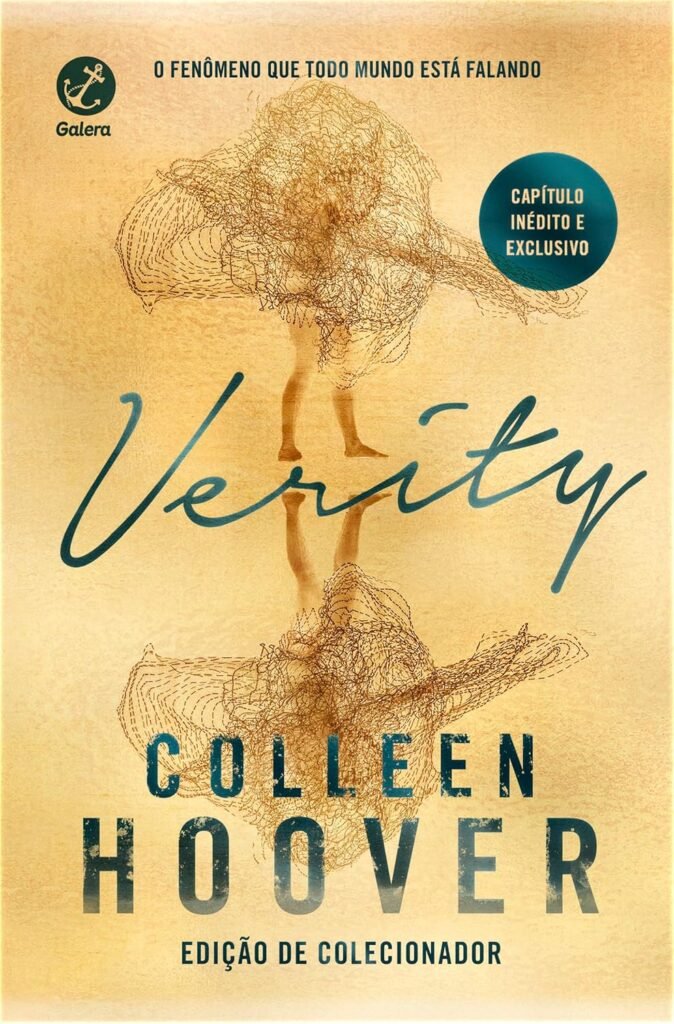




Linda história, gostei muito.
Grato pela visita, leitura e apreciação! Volte sempre!
Excelente conto. O final me surpreendeu.
Grato pela leitura e observações sobre o conto. Um forte abraço!
Excelente conto…
Grato pela visita e partilha! Tenha um óptimo dia!
O texto é extremamente explicativo e emocionante. Em algum momento fez com que voltasse um pouco na minha infância. Boas lembranças vieram-me a mente e por algumas horas lendo e relendo o texto fez-me voltar no bairro Janeiro…! Muito obrigado pela partilha.
Este é apenas um retalho do retrato da nossa infância. . .os jogos de futebol improvisado, as pequenas aventuras pelo mangal, e mais tarde o Futsal no salão de Samugue.
Parabéns pelo belíssimo conto com um errendo emocionante, é um conto e tanto! O conto de “Duck” me fez voltar no passado e na nossa “saudável infância”, me fez recordar todas brincadeiras que tivemos e nos momentos que nos reuniamos para jogar a bola, muguba, mussuruco, “gunri” e brincávamos de jogar “jó”. Recordei ainda daquela brincadeira meio perigosa de enterrar um paozinho para depois bater com outro pau e a outra pessoa tinha que ficar na frente aguardando. Levou-me ainda nas lembranças dos jogos entre bairros, as brincadeiras de mangal. Também recordo-me dos momentos que agente ficava só para nos “troçar”. Oh infância que lá se foi e apenas restou-nos lembranças.
Grato pela visita, é sempre bom, de vez em quando, trazer lembranças daqueles bons momentos que tivemos e não voltam mais. Tenho um poema escrito há meses, que o submeti para uma possível seleção para uma antologia de escritores da Zambézia. . . Uma reunião de várias gerações de escritores da Zambézia numa só antologia mista de contos, poemas, crônicas. . . Um poema sobre alguns momentos marcantes da infância e adolescência, e sobretudo quando reuniamo-nos para jogar Xadrez que o seu irmão Mhanuel nos ensino e ofereceu. No poema falo também sobre ele, quando me chamava de “Chaveiro”. Tenha um óptimo dia, amigo!
Gostei muito da estória e dou uma nota grande (20)
Grato pela leitura, meu amigo, produtor e cantor!