
I
Carregaram o caixão como quem carrega um dicionário de palavras extintas — só que o caixão era o próprio livro, grosso, pesado, cheirando a mofo e choro de tinta. Um livro sem título, sem autor, só páginas amareladas que arfavam como pulmões prestes a explodir. Seis homens de terno negro marchavam na procissão, como pontos finais ambulantes, arrastando as pernas entre vírgulas invisíveis no asfalto rachado.
E atrás deles vinham as multidões mudas, cada uma com a língua enrolada em plástico bolha, incapazes de pronunciar uma frase sequer. Os tipógrafos tinham enforcado suas próprias mãos nas prensas. As editoras eram prédios em ruínas onde morcegos mascavam verbos. E as crianças, ah, as crianças, brincavam de apagar alfabetos riscados na poeira, rindo do silêncio como quem descobre uma nova droga.
No meio do cortejo, alguém gritou: “Aqui jaz a Literatura!”
E o grito foi tão alto que explodiu em estilhaços de pontos de interrogação, cortando o céu em feridas azuis. Mas ninguém respondeu. Porque não havia mais diálogo, só monólogos repetidos dentro de cabeças ocas, ecoando slogans publicitários como orações desesperadas.
O livro gigante começou a sangrar. Sangue de tinta preta escorrendo pelas ruas, escorrendo pelos sapatos, escorrendo pelos relógios de pulso. As poças de tinta refletiam rostos borrados, e todo mundo parecia estar sendo escrito e apagado ao mesmo tempo. Cada passo era um borrão, cada lágrima uma mancha, cada suspiro um rodapé ilegível.
No cemitério, não havia covas, apenas prateleiras vazias. O livro foi encaixado como um cadáver no meio de um vazio de estantes, e de repente todas as lombadas fantasmas das bibliotecas mortas começaram a tremer, como ossadas pedindo vingança.
Um vento enlouquecido soprou — cheio de recortes de jornais, papéis picados, páginas rasgadas de diários adolescentes. Soprou dentro dos ouvidos, soprou dentro das bocas, soprou dentro dos olhos. E no fundo, uma voz, rouca, desdentada, faminta, repetia:
“Vocês me mataram, mas eu sigo escrevendo vocês em silêncio.”
O cortejo se dispersou. Os homens voltaram para suas casas e ligaram a televisão. E na tela, entre anúncios de sabão em pó e planos de celular, apareceu uma frase piscando como letreiro de motel barato:
“A literatura morreu. Viva a literatura.”
E então, todos dormiram em paz, sonhando com livros que nunca mais iriam acordar.
II
Carregaram o livro como quem carrega um cadáver gordo de palavras podres, como quem carrega a língua morta de todas as gerações que cuspiram poesia nas calçadas, como quem carrega um grito abortado no meio da avenida. Carregaram o livro — e o livro estava morto, morto, morto, mas ainda latejava, latejava, latejava como um coração de tinta preta.
Eu vi os homens de terno marchando como pontos finais, eu vi as mulheres de boca costurada chorando reticências, eu vi as crianças lambendo a poeira das estantes como se fossem hóstias de papel. Eu vi os profetas bêbados recitando manuais de instrução, eu vi os padres trocando a Bíblia por bulas de remédio, eu vi os poetas pendurados nos postes com as palavras pingando das veias como grafite fresco.
A Literatura morreu!
A Literatura morreu!
A Literatura morreu!
Gritavam as paredes da cidade, gritavam os outdoors de neon, gritavam os alto-falantes dos supermercados que anunciavam promoções de vocabulário, dois substantivos pelo preço de um adjetivo, compre já seu advérbio parcelado em doze vezes no cartão da gramática.
E o livro no caixão sangrava — sangrava tinta, sangrava versos mutilados, sangrava sonhos não publicados, sangrava as entranhas dos escritores suicidas, sangrava os olhos arrancados dos leitores famintos.
Oh, Moloch! Oh, Moloch devorador de bibliotecas!
Oh, Moloch de celulose e plástico!
Oh, Moloch de pixels e algoritmos!
Tu engoliste Homero, cuspiste Cervantes, mastigaste Rimbaud, dissolveste Drummond no ácido das timelines!
E o cortejo andava, andava, andava, como se nunca houvesse fim, como se cada passo fosse o último, como se cada página fosse a última. O livro morto pesava toneladas, toneladas de silêncio, toneladas de ignorância, toneladas de vazio.
No cemitério das estantes quebradas, os homens depositaram o livro. E as lombadas espectrais dos livros não-lidos, dos livros queimados, dos livros esquecidos, começaram a gritar em coro:
“Vocês nos mataram, mas nós somos eternos! Vocês nos enterraram, mas nós somos subterrâneos! Vocês nos calaram, mas nós somos o eco dos mortos!”
E eu acordei suado, suado, suado, com o gosto de papel queimado na boca, ouvindo vozes sem rosto que sussurravam dentro do meu crânio furado:
a literatura não morre, a literatura é o fantasma que arrasta correntes dentro da tua língua.
III
O Cortejo dos Livros Mortos
Vi os maiores cérebros da minha geração queimarem seus cadernos em fogueiras digitais,
vi adolescentes rezando para deuses de curtidas,
vi bibliotecas demolidas para erguer estacionamentos de shopping,
vi escritores mendigando metáforas nas portas das editoras,
vi palavras vendidas como pedras de crack na boca do algoritmo,
vi o alfabeto apodrecendo nas sarjetas das metrópoles,
vi gramáticas arrancando os próprios dentes em desespero.
Carregaram o livro como um caixão de ossos e papel,
carregaram o livro pelas ruas de neon,
carregaram o livro sob a chuva ácida de anúncios,
carregaram o livro e o livro pingava tinta,
tinta negra, tinta espessa,
tinta que manchava o céu como se fosse petróleo escorrendo de uma estrela morta.
Eu gritei nas esquinas: A Literatura morreu!
mas minha voz era só ruído de rádio fora de sintonia.
Eu vi as crianças tatuarem emojis na língua.
Eu vi os professores beberem gasolina.
Eu vi os editores de joelhos diante das máquinas de busca,
orando por relevância,
orando por trending topics,
orando por nada.
Oh, Moloch! Engolidor de palavras!
Oh, Moloch! Dentes de silício triturando sonetos!
Oh, Moloch! Barriga cheia de e-books ilegíveis!
Tu cuspiste cadáveres de haicais,
tu mijaste dicionários inteiros,
tu riste do último verso de Maiakovski.
E os homens marchavam, marchavam, marchavam,
pés como pontos finais socando o chão,
ombros como travessões sustentando o peso do silêncio,
olhos cegos como vírgulas perdidas,
corpos rítmicos como reticências.
O cortejo não acabava nunca,
pelas avenidas, pelos becos,
pelos desertos de concreto,
pelos cemitérios de livrarias falidas.
E cada passo era um epitáfio.
E cada respiração era um prefácio que se desmanchava.
As páginas gritaram, oh!
as páginas gritaram, rasgadas como pulmões perfurados!
Gritaram versos que ninguém escutou,
gritaram vozes que não cabiam nas telas,
gritaram as entranhas abertas da poesia.
E quando o livro foi depositado na última estante,
não houve silêncio, não houve luto,
houve apenas um trovão de papéis invisíveis,
uma chuva de palavras não-ditas,
uma tempestade de letras órfãs.
E eu vi — sim, eu vi —
as sombras dos escritores mortos dançando sobre os telhados,
balbuciando poemas que queimavam como febre,
esfregando frases nas paredes como grafites sanguinolentos,
vomitando narrativas inteiras no abismo da madrugada.
E eu ouvi — oh, eu ouvi —
uma voz rouca, espectral, subterrânea,
a voz da própria literatura,
a voz de um cadáver indomável,
a voz que sussurrava como um trovão invertido:
“Vocês me mataram mil vezes, mas eu sempre retorno.
Vocês me enterraram em caixões de silêncio, mas eu sou o ruído do mundo.
Vocês me venderam em parcelas, mas eu não tenho preço.
Eu sou o fantasma que gruda na tua língua.
Eu sou o livro que nunca fecha.
Eu sou o verbo eterno,
escrito em sangue e apagado em fogo.”
E o cortejo continuou.
E ainda continua.
E continuará até o fim da língua humana.
***





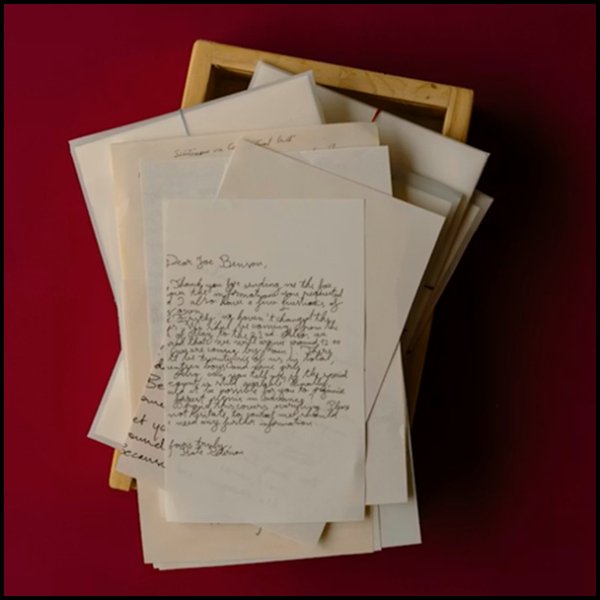



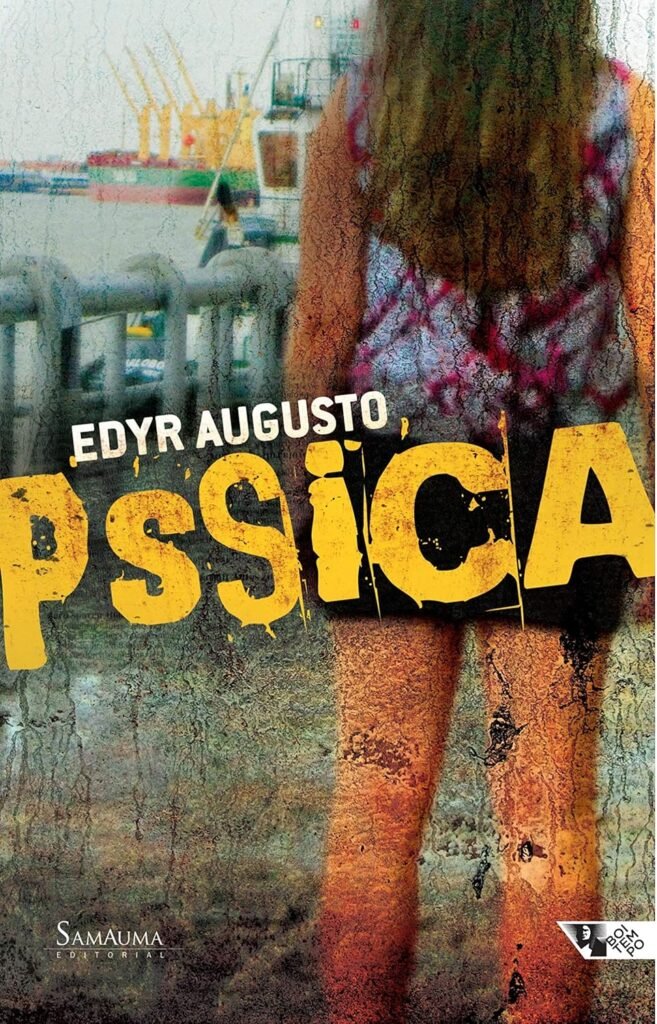
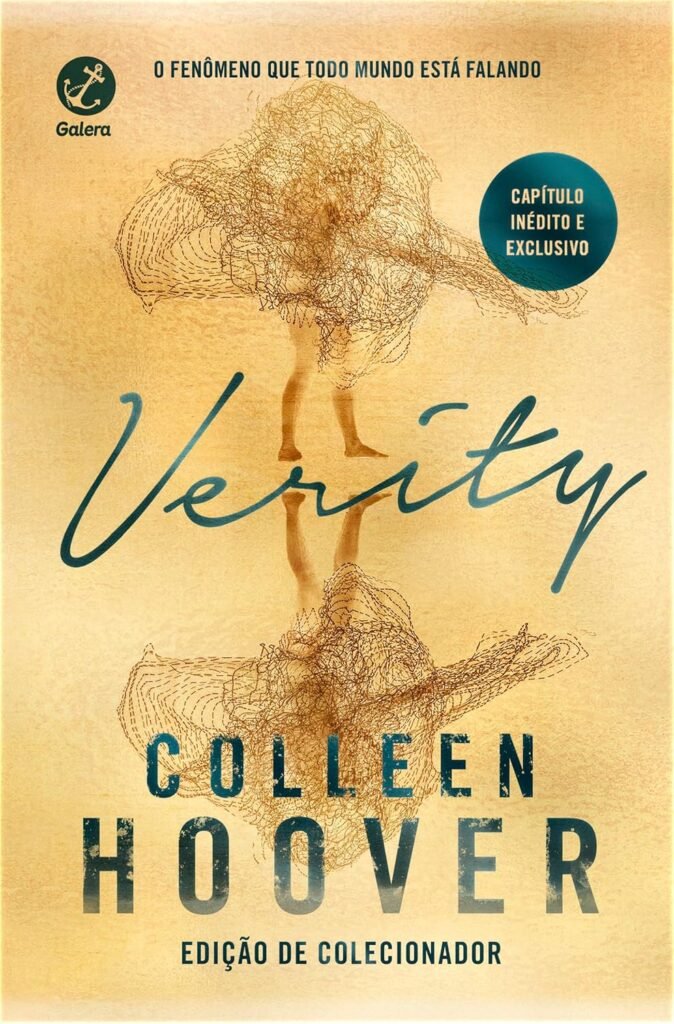




Lido! A Literatura não pode morrer!