Localizada no sudoeste africano, banhada pelas águas quentes do Oceano Índico, estava uma nação chamada N’karingana que pela riqueza em recursos naturais, faunísticos e pesqueiros, a apelidavam de “Pérola do Índico”, e não era para menos. N’karingana, ou seja, a “Pérola do Índico”, era um lugar apreciável e apetecível aos olhos estrangeiros; um lugar de belezas estraordinárias antigas, promessas modernas e realidades tristes. Uma terra onde os líderes usavam fato italiano, tomavam bebidas caras importadas, mas falavam de “valores africanos”. Onde a bandeira, — desbotada e rota—, tremulava com orgulho nacional, mesmo quando o vento vinha de contratos assinados em idiomas que o povo não entendia.
No ano em que tudo começou, o país havia acabado de sair de uma guerra não declarada e invisível de “dívidas ocultas”. O povo tinha fome e o Estado, sede — sede de dólares, de prestígio, de controle.
O presidente, Matateu Nyonga, subira ao poder em meio a tumultos e protextos, com discursos inflamados. Tinha sido eleito “democraticamente” mas, paradoxalmente, a maioria não o queria no poder. Pois tinha sido conduzido ao cargo de Presidente da Nação às pressas porque o país necessitava historicamente do seu partido,— o libertador, e o seu partido, por sua vez, carecia de uma figura paterna. Uma figura que pudesse ao menos semear a esperança no povo, sobretudo nos jovens famintos e embriagados, para continuar a trabalhar e sonhar com a contínua promessa de um “futuro melhor”. Ali estava Matateu Nyonga, o continuador ideal das “boas obras” dos libertadores da pátria.
Quando foi indicado pelo partido, e posteriormente, eleito pela “minoria absoluta”, ele até não acreditou. Parecia um desses milagres proféticos dessas nossas igrejas. Mas, mais do que figura paterna para assumir a presidência, o país também carecia de patriotas, e a maioria dos eleitores eram “vândalos” e “marginais”, esses famintos que pululavam pelas ruas como mendigos logo que amanhecesse, por isso a “minoria absoluta” de eleitores “patriotas”, e “intelectuais” amigos do “partidão” foi o suficiente para conduzir o ilustre candidato à presidência, enfim, foi uma “eleição de gabinete”.
Matateu Nyonga era um homem com postura invejável, jovem (mas não pela idade, e sim pelas ideias copiadas), boa dicção e um sorriso treinado. Tinha discurso contemporâneo e sabia usar com mestria palavras da moda como “reformas estruturantes”, “inclusão produtiva” e “transformação digital”, mesmo quando a sua aldeia natal bebia da água de pântanos, passava fome degradante, e a escola do seu bairro ainda usava quadros partidos e giz emprestado. Era chamado de “Pai da Nova Era”, embora ninguém soubesse exatamente quando a nova era começara — ou se havia começado de facto.
No seu segundo ano de mandato, Nyonga reuniu-se com os conselheiros no Palácio de Marimbana, uma mansão colonial que fora restaurada por uma empresa sul-africana, contratada sem concurso público.
— Meus senhores — disse ele, com a voz suave, e tranquilidade invejável que parecia até um Monge —, o povo já está acordando, e exige desenvolvimento. Os jovens já precisam de emprego. Eles não toleram mais promessas. Não podemos mais esperar que os erros que inserimos nos novos manuais escolares façam efeito. Será tarde demais para nós. Tenho uma ideia: Vamos cortar o orçamento da Educação e da Saúde. Vamos reinventar a gestão. Vamos fazer do país. . . um produto.
Um dos ministros, o camarada Doutor Carmindo Castilho, interrompeu, curioso:
— Um produto, excelência?
— Exatamente — sorriu Nyonga, olhando para um mapa do país, — Vamos aplicar lógica de mercado. Temos imensos recursos, temos localização estratégica, temos um povo paciente e resiliente, apesar de tudo.
— E as manifestações que foram anunciadas. . .
— Esses são uns famintos e vândalos. . . Inimigos da soberania. — respondeu Matateu Nyonga, e preseeguiu falando:— Só nos falta vontade de negociar a pátria com ousadia.
Na verdade, tal reunião foi apenas uma mera formalidade, porque, no fundo, quase todos os dirigentes viam N’karingana como um bolo que devia ser fatiado com emergência, e cada um levar a sua parte, no entanto, todos os presentes na sala concordaram vivamente com a ideia e o plano foi batizado de forma “patriótica”: “Rumo à Soberania Sustentável”. Nos bastidores, chamavam de “Operação Leilão”.
Tudo começou discretamente. Primeiro, venderam a empresa nacional de telecomunicações, a “N’karingaNet” alegando necessidade de modernização. Depois, entregaram parte do sistema ferroviário a um consórcio indiano, que prometia recuperar os trilhos — mas, seis meses depois, levou os trilhos como “amostra para estudo técnico”.
O Ministro das Finanças, Hilário Castigo, homem de fatos cintilantes e pronúncias herdadas de discursos antigos, tornou-se o rosto do progresso. Ele não explicava contratos, não. Dava grandes entrevistas à imprensa nacional e internacional. Dizia que “o país precisava abrir-se ao capital estrangeiro”, e a imprensa estatal ornamentava tais discursos fazendo eco com manchetes otimistas: “Investidores Confiam no Clima de Negócios de N’karingana”,
“Parcerias Transformadoras Geram Esperança”, “Presidente Recebe Medalha de Visão Pan-Africana”. Enquanto isso, o povo clamava por serviços básicos, e recebia saquetas de arroz com o rosto do presidente estampadas nelas. E isso era uma espécie de “muita boa vontade” do presidente. Em tempos de fome, até propaganda tem gosto de salvação.
A floresta de Mucumbura, santuário da biodiversidade, foi concedida por 50 anos a uma empresa chinesa, a GreenEast Group. O contrato, escrito em mandarim e assinado em N’karingue, capital do país, previa “exploração leve e sustentável”. Mas, dois anos depois, havia mais buracos que árvores. Um grupo de activistas denunciou o desastre, mas a polícia chamou-os de “incitadores à desordem”, anti-patriotas e levou os três líderes para “colher esclarecimentos”. Mas nunca mais se ouviu falar deles.
Na zona costeira, por exemplo, pescadores do distrito de Salinda viram suas águas cercadas por barcos estrangeiros: Eram japoneses, chineses, sul-coreanos, até russos, mas ninguém sabia quem os autorizara. Os peixes e crustáceos sumiram, e os jovens pescadores começaram a migrar para as cidades, onde a maioria deles dormiam em barracas e vendiam cartões de recarga de telemóvel, disputando assim a concorrência com tantos outros desempregados, graduados pelas universidades do país.
Enquanto isso, no Conselho Supremo de Governação e Imagem, uma nova prioridade surgiu: preparar o país para receber investidores turísticos. Era preciso “embelezar os espaços públicos”. Borrifar perfumes onde antes havia lixos e odores. Traduziram isso como remover vendedores informais das ruas, proibir mendigos no centro da cidade, enfim eliminar a pobreza absoluta da imagem, a mesma pobreza que fora motivo de vários financiamentos e “ajudas” externas de várias organizações internacionais. Depois de se “enriquecer” em nome dos pobres coitados, os mesmos eram jogados para lata do lixo, e as ruas eram pintadas com faixas coloridas, com slogans como:
“Somos Um País Amigo dos Negócios”
“Crescer com Orgulho”
“Exportamos Sonhos”
Sonhos, sim. Porque realidade, já não se exportava mais. Porque até importar papel custava tão caro, que as editoras nacionais de livros viam-se sufocadas com elevados impostos, enquanto deputados eram isentos de cobranças fiscais nas importações. Parecia um governo formado por comissionista que colocavam impostos sob produto em quase tudo: batata, óleo, arroz, açúcar, farinha. . . Excepto nessas bebidas alcoólicas baratas, talvez porque a lucidez quotidiana era tão angustiante, que era necessário aliviar a tensão com sonhos embriagados.
O tempo passou. Cinco anos de reformas, e projetos insustentáveis. Dez anos de concessões, e renovação de promessas. Quinze anos de progresso para poucos, e retrocesso para muitos.
N’karingana era chamada então de “o milagre adormecido da África Austral” por revistas estrangeiras, embora, por dentro, dormisse em leitos de pobreza absoluta e desnutrição crónica.
Nas periferias dos bairros suburbanos a juventude passava os dias em filas: de pão, de água, de emprego. Os hospitais funcionavam com geradores doados por uma ONG norueguesa ou, às vezes, à luz de velas. O Ministro da Saúde posava sorridente para fotos com caixas de aspirina como se fossem de ouro.
Enquanto isso, os ministros e seus filhos já moravam em bairros luxuosos murados com nomes estrangeiros. As crianças estudavam em escolas internacionais. Falavam inglês com sotaque estrangeiro e diziam “N’karingana” como quem pronuncia o nome de um lugar exótico, distante, quase esquecido.
O presidente Matateu Nyonga raramente aparecia em público, mas, quando surgia, era em cimeiras internacionais, onde ganhava prêmios por “resiliência económica” e “liderança visionária”. Nenhum desses prêmios era dado pelo povo, mas todos garantiam capas de jornal e vídeos emocionantes no canal estatal.
O Parlamento virara palco de teatro. Projetos de lei eram aprovados sem debate, as comissões não tinham ata, e os deputados mais ousados já estavam exilados ou no mundo do silêncio. Um deles, Caudêncio Custódio, que denunciara um contrato fraudulento com uma empresa canadense, desaparecera numa viagem “oficial” a uma zona de investimentos de mega projetos, onde eclodira um conflito armado entre rebeldes e o Estado. A versão do Governo dizia que ele se perdera na floresta. Mas todos sabiam: em N’karingana, quem questiona perde o caminho — ou a voz.
Um dia, o Governo lançou o seu maior projeto: a criação da Zona Especial de Negócios de Mancare. Ali, toda a legislação nacional seria suspensa. As empresas poderiam importar, explorar e exportar sem interferência do Estado. Seria “o novo Dubai africano”, diziam os painéis.
— Vamos transformar a dor em dólar — disse o Ministro das Zonas Francas, sorrindo como quem vende um sonho. Ou um país.
Ninguém notou que, com essa nova zona, metade do litoral havia sido entregue a investidores estrangeiros por 70 anos. Nem que aldeias inteiras seriam deslocadas. Nem que o contrato havia sido assinado numa noite de sexta-feira, sem tradutor nem notário.
Na prática, N’karingana pertencia a todo e qualquer grande investidor estrangeiro, menos aos próprios nkaringaneses.
No trigésimo ano de governação, o Presidente Matateu Nyonga fez o seu último discurso à nação. Vestia um fato branco, rimando com as suas barbas e cabelos, olhos cansados, mas ainda firmes diante das câmaras. O país inteiro assistia, embora ninguém mais esperasse surpresas.
— Meus compatriotas — disse ele, pausadamente, numa voz doce de se ouvir —, servi com honra e amor á pátria. Fizemos sacrifícios. Enfrentamos tempestades. Mas deixo um país estável, aberto ao mundo, respeitado internacionalmente. N’karingana é, hoje, uma grande marca. E as grandes marcas não morrem. . .
Ao fundo, músicos tocavam um hino remixado, com batidas modernas. O povo não sabia se era despedida ou propaganda.
Três semanas depois, Matateu Nyonga partiu em voo privado para Dubai, onde havia adquirido “residência temporária por motivos de saúde”. A imprensa dizia que era apenas uma pausa. Mas o avião levou consigo a primeira-dama, os filhos, e dois camiões de bagagem diplomática.
Os novos líderes prometeram “continuidade com inovação”. Mas os velhos ministros foram todos reconduzidos. A única novidade era o logótipo da presidência, agora com cores mais vibrantes.
No interior, as comunidades estavam cansadas. Cansadas de promessas, de campanhas, e de relatórios. No Povoado de Maringuane, por exemplo, um velho plantador, e ex-combatente, chamado Zamwane sentou-se à sombra de uma mangueira e disse a um neto curioso:
— Este país. . . não foi vendido de uma vez. Foi vendido aos poucos. Um pedaço de cada vez. Quando demos por nós, já não tínhamos nem mapa.
— Mas e agora, vovô?
O velho suspirou.
— Agora. . . agora precisamos reaprender o que é nosso. Não basta herdar a pátria. É preciso recuperá-la.
Enquanto isso, nas cidades, jovens criavam músicas de protesto, murais de denúncia, clubes de leitura. Não sabiam se mudariam o país, mas recusavam-se a viver como figurantes de um enredo já escrito.
E assim, N’karingana seguia viva, mutilada, mas teimosa na ilusão de ser soberana.
Porque, por mais que se tente vender um país, há sempre um “teimoso” que insista em reerguê-lo. Palavra por palavra. Passo por passo. Geração por geração.
***




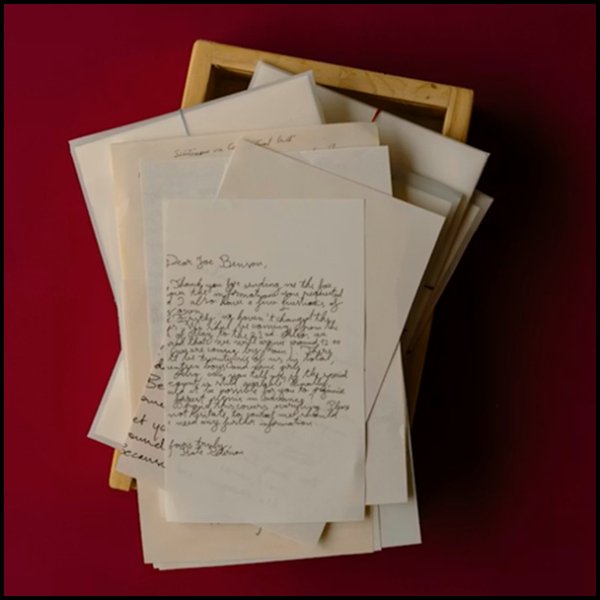





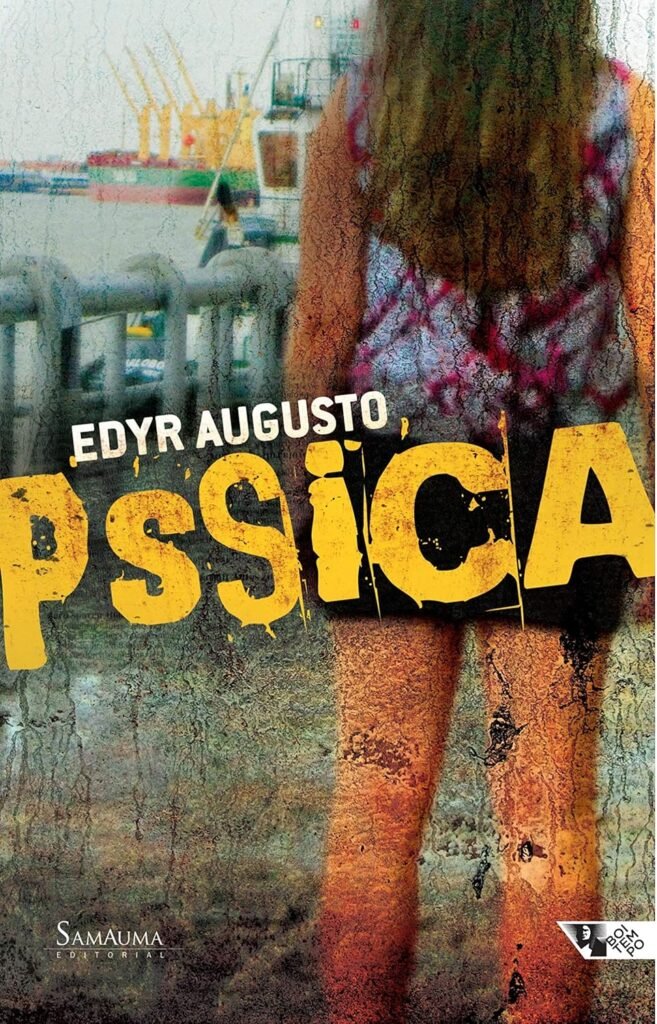
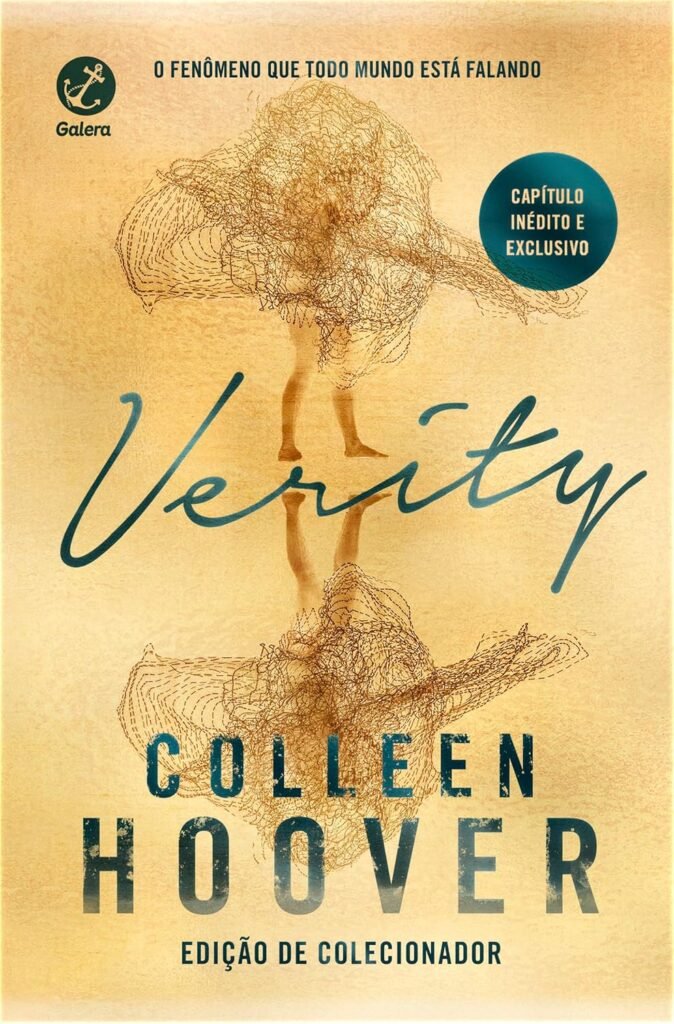




Belíssimo conto meu caro Preclaro!