
Eu odiava o cheiro da minha mãe
Ele exalava da terra do medo,
espesso, viscoso,
com gosto de barro e sabão frio
Subia da pele dela como prece corrompida,
uma oferenda involuntária
ao deus das pequenas crueldades
Era o hálito de um anjo amputado,
um perfume de penitência
e gordura queimada
Não havia ternura ali
apenas o ritual da obediência
o ruído abafado
de um amor disfarçado de punição
Ela falava em Deus
e Deus tremia
Nas mãos dela, o sagrado apodrecia devagar
fedendo a cera e ressentimento
A fé virava faca
cada gesto tinha precisão de cirurgião
cada toque, intenção de ferida
Os olhos, dois sóis febris
incendiavam o que tentava ser inocente
Ela não gritava
impunha silêncio
um silêncio disciplinado
feito para sangrar em segredo
O cheiro dela não era corpo
era abismo
Incenso de culpa
limpeza forçada
perdão negado
lágrima reprimida sob o azulejo
À noite, o ar ficava denso
o odor se espalhava pelo quarto
lento, inquisidor
O sono desistia
o corpo fingia calma
Ela dizia amar
mas o verbo saía torto, saturado de culpa
Seu toque era sentença
E ainda assim, respirávamos o mesmo ar
porque não havia outro
A criança que fui aprendeu
que o afeto pode cheirar a cela
e a piedade tem gosto de sangue coagulado
Anos depois, encontrei uma peça de roupa dela
um tecido antigo, escondido num armário
A blusa exalava o mesmo odor
Segurei o pano
o ar se fez espesso
as paredes se estreitaram
Por um instante, fui a criança de novo
sufocando no que não podia dizer
Eu odiava o cheiro da minha mãe
porque nele habitava um deus doméstico
doente, vigilante
Ela respira
move-se
longe
Mas o cheiro me segue
saturando tudo
Quando ela se aproxima
o ar se transforma:
cheira a necrotério
seco, cortante
escorrendo pela garganta
abrindo fissuras na memória
E eu observo, oculta
a criatura que me deu vida
desfiando minha própria carne
em silêncio
em perfume
Só o cheiro
O corpo já não importa
Simone Bacelar
19/10/2013

Ruído de papel gasto
Para Abdalla
Ele começou escrevendo na Biblioteca Central dos Barris.
As mesas rangiam histórias que não eram dele.
Um ventilador antigo girava o tédio dos outros.
A cidade lá fora fervia com pressa demais.
Havia uma luz opaca caindo sobre os livros,
um cheiro de ferro velho e sabão barato.
Ele achava que dali sairia algo grande,
qualquer coisa que o salvasse do turno das seis.
Um dia o chamaram de promessa,
e ele acreditou.
Gente sempre acredita quando está cansada demais pra duvidar.
Depois veio o Gabinete Português de Leitura,
as colunas altas,
a voz ecoando num latim que ninguém mais entende.
Ele pensou em deixar o nome entre aqueles
que nunca precisaram pedir desculpa ao tempo.
Mas o tempo não pediu licença.
Foi apagando letra por letra,
tirando o brilho das frases,
até restar só o gesto automático de escrever,
sem saber por quê.
Hoje ele ainda passa pelos mesmos lugares.
O som dos passos se mistura ao das estantes.
Um funcionário novo o reconhece pela metade:
“Você não era escritor?”
Ele sorri sem dentes de resposta,
senta num canto,
abre o caderno gasto.
Só o som da caneta arranhando a mesa,
uma espécie de respiração forçada
que ninguém notaria se parasse.
Simone Bacelar
14/10/2015

Parque de diversões
Há um parque aceso no escuro da mente.
Roda lenta de constelações gastas,
engrenagens que trituram a infância até virar ruído.
As lâmpadas piscam, epilepsia de estrelas falidas.
O ar cheira a ferrugem doce,
ao hálito do tempo mastigando o próprio rabo.
Um boneco de riso fixo balança na ventania,
olhos pregados com pregos de ouro gasto.
Há uma pureza deformada nisso:
a beleza que apodrece sem aviso.
A montanha-russa corta o ar em espasmos,
e cada curva é um nervo sendo arrancado.
Lá embaixo, o chão espera com uma paciência mineral.
Ninguém chega ileso do alto.
A solidão anda de mãos dadas com os reflexos,
duas crianças órfãs da mesma ausência.
Elas compram bilhetes para brinquedos que não existem,
pagam com pedaços de memória.
O carrossel gira dentro da carne,
e os cavalos são pensamentos decapitados,
correndo eternamente sem destino.
O narrador do alto-falante repete uma frase extinta,
em uma linguagem que só as moscas entendem.
Cada sílaba é um fósforo se apagando no vento.
E o homem, esse fulcro da desordem,
permanece ali, imóvel,
vendo o mundo girar até perder forma.
Sente que algo nele se inclina,
se dobra, se parte.
Então compreende:
a solidão é o parque que nunca fecha.
Os cabos enraízam-se sob sua pele,
as luzes acendem-se em seus ossos.
Os cavalos do carrossel mordem-lhe o coração,
devoram-no com ternura mecânica.
A roda gigante gira dentro de seus pulmões,
o ar entra e sai em círculos,
um fôlego de eternidade partida.
As lâmpadas piscam sob a carne,
os gritos das crianças nascem em sua garganta.
O parque respira.
E ele respira com o parque.
E já não há diferença entre o metal e o homem,
entre o riso e o colapso,
entre o fim e o movimento.
O corpo vibra, incandescente,
até o silêncio se abrir em clarão.
E o que resta
não é ele, nem o parque,
mas o som puro
da solidão funcionando.
Simone Bacelar




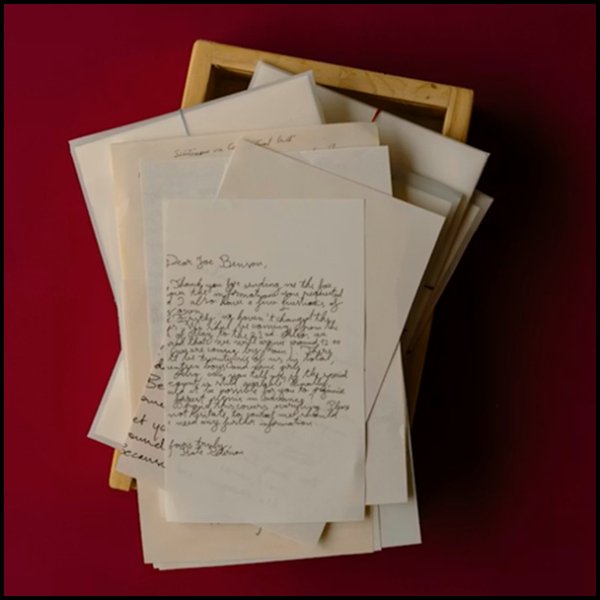




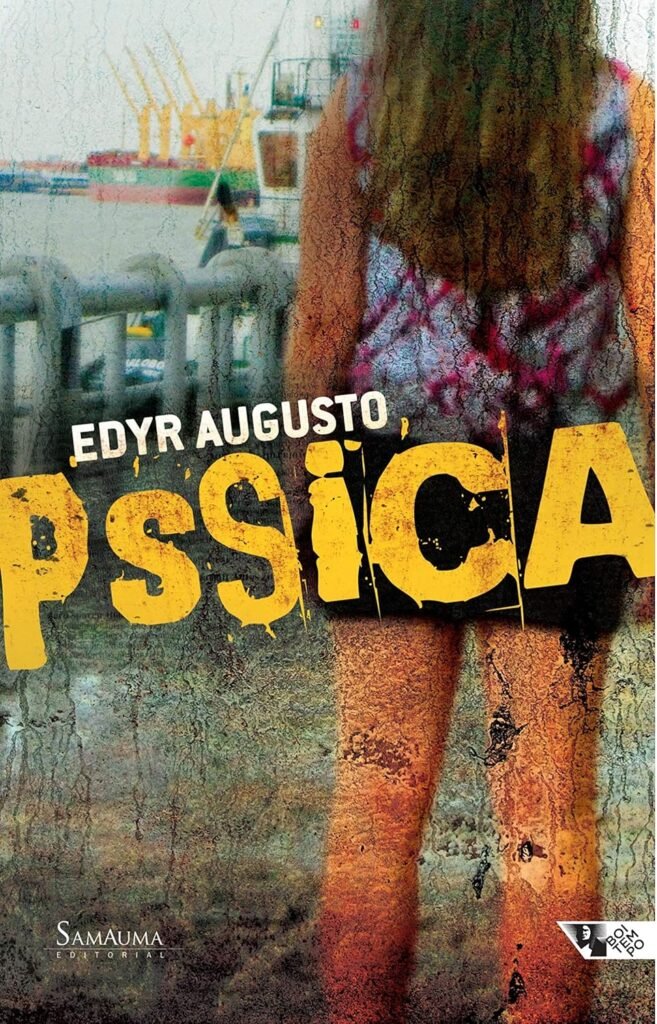
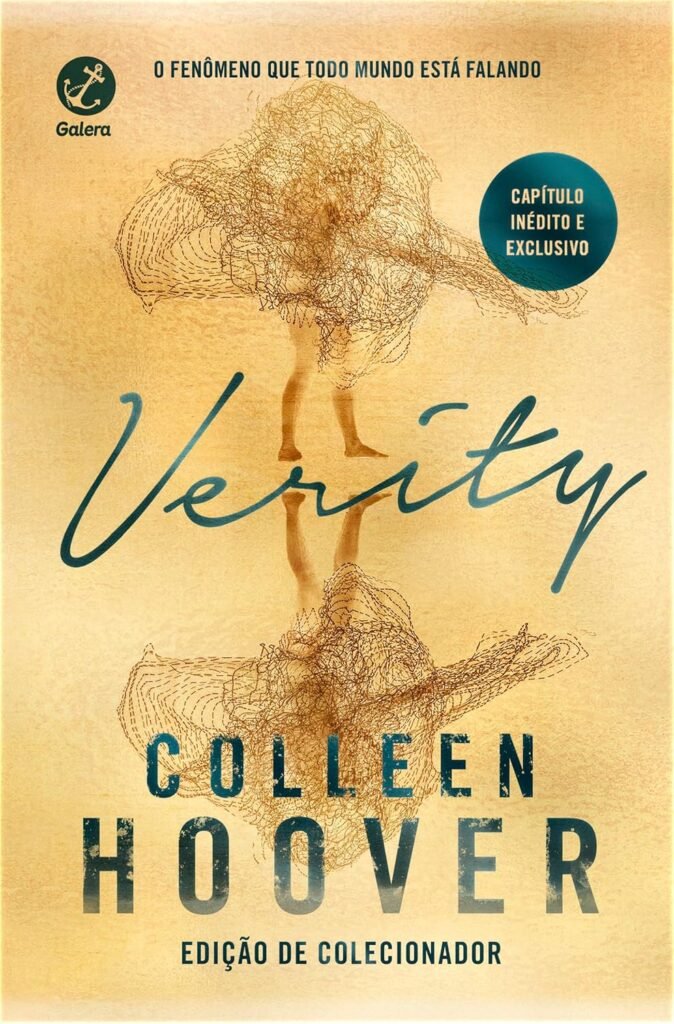




Intensos
O Idioma das Sombras é um livro maravilhoso… Seus poemas nos abraça forte, incomoda e nos faz olhar para as margens cotidianas.