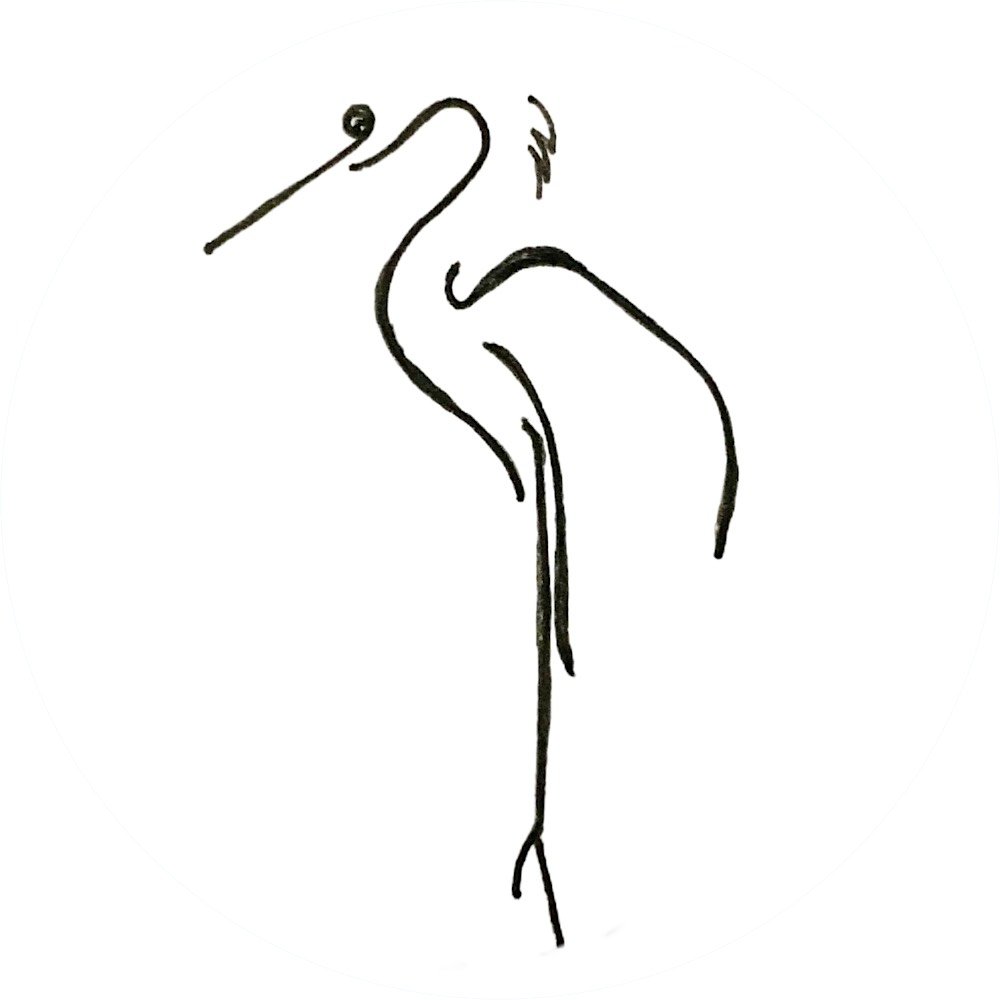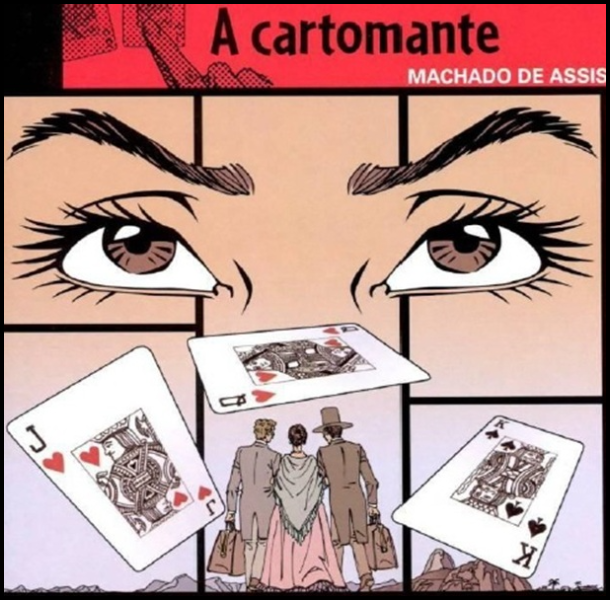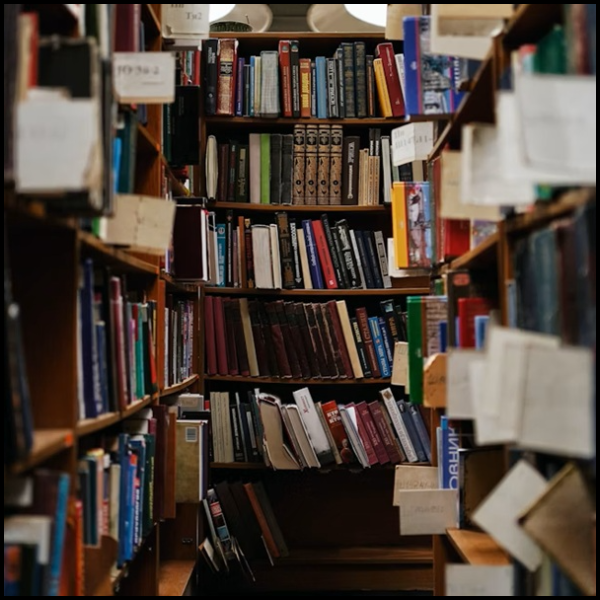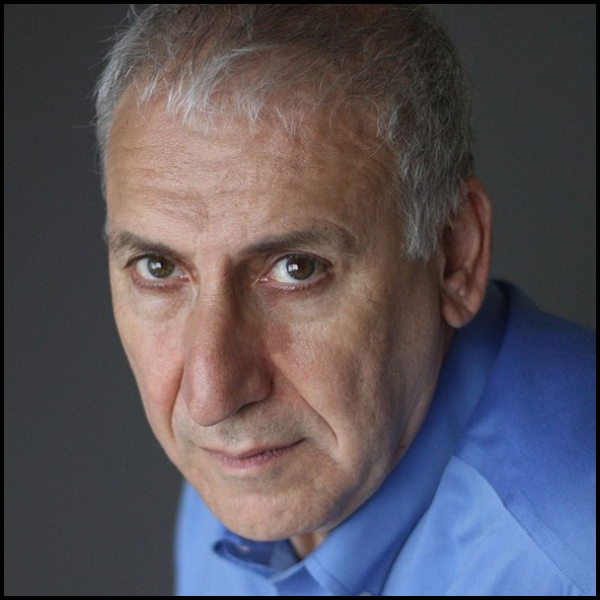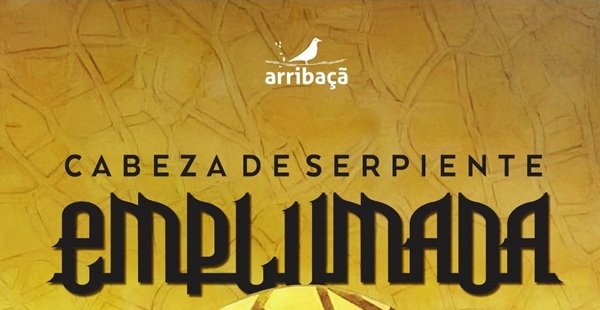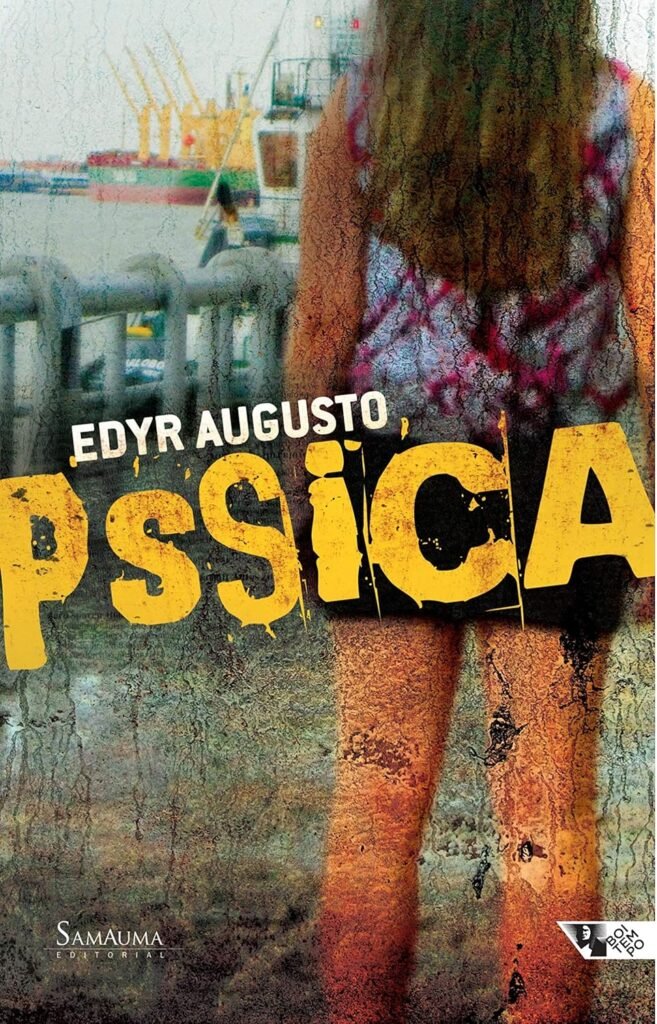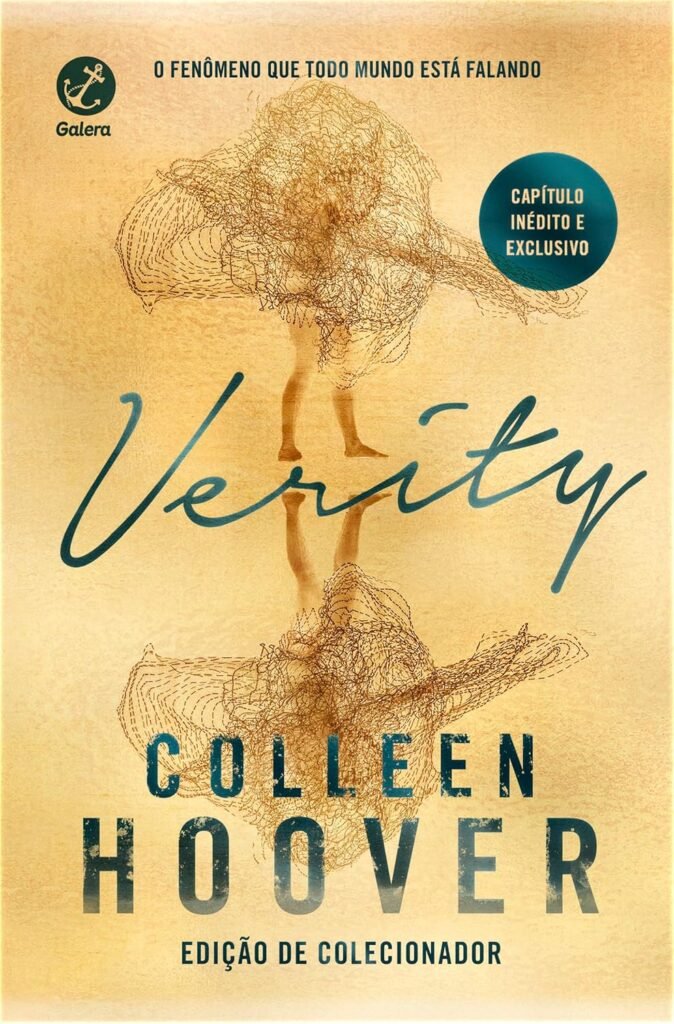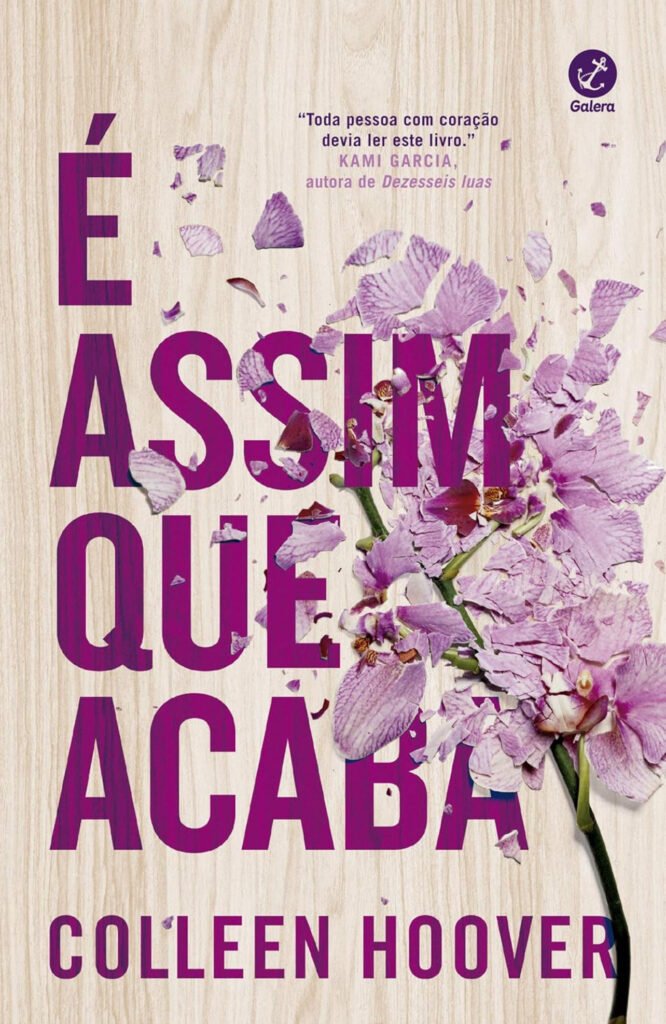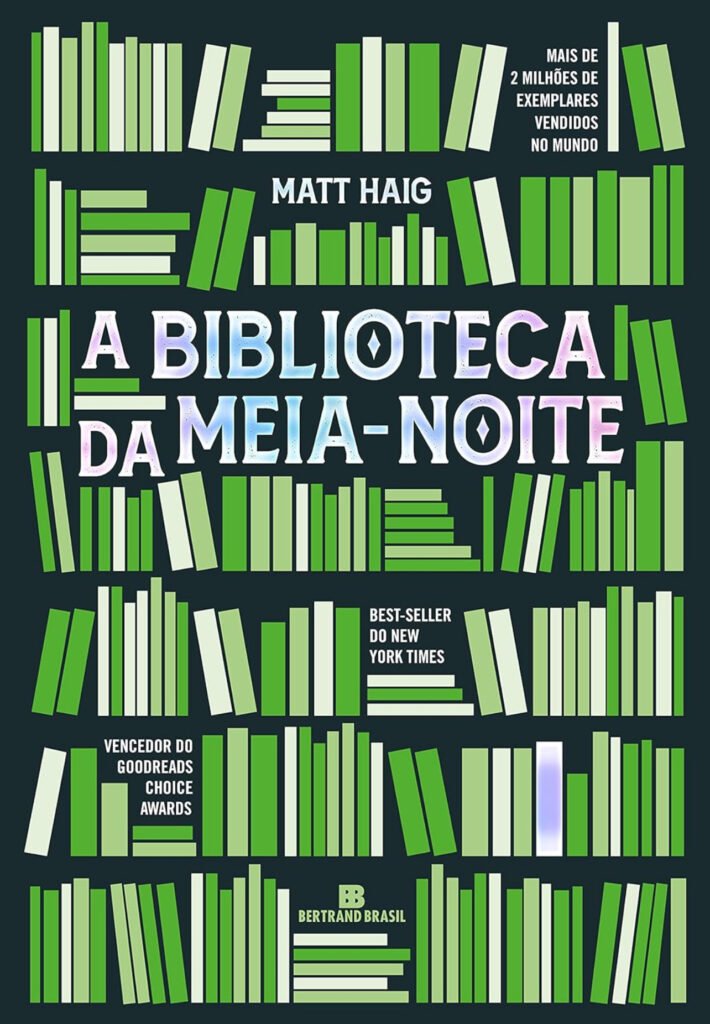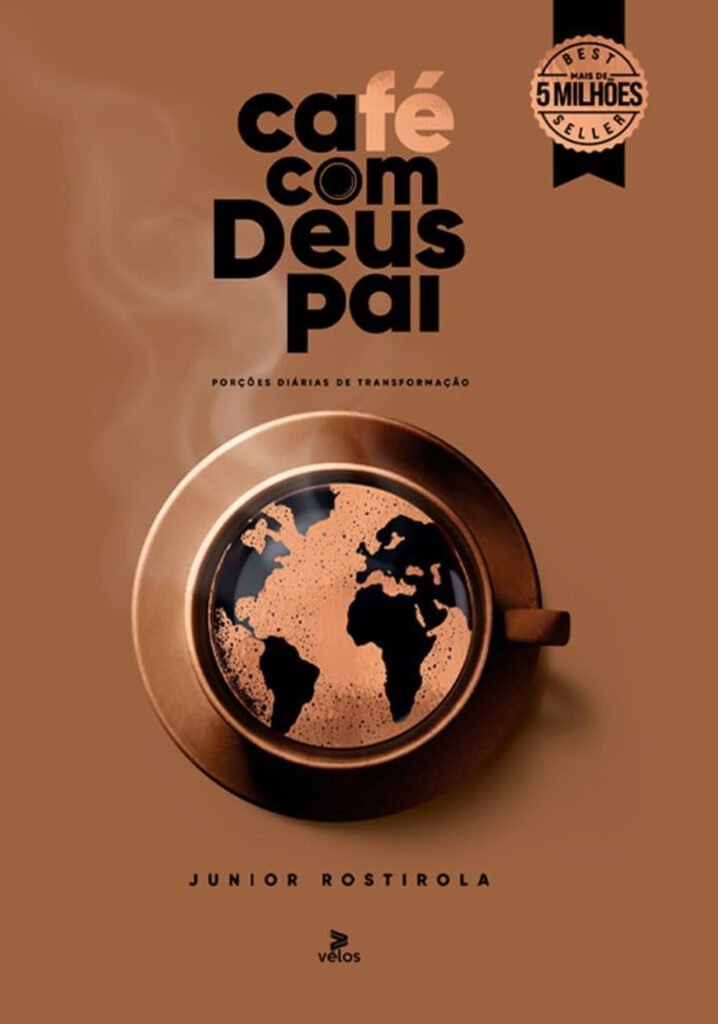A Autobiografia de um Defunto
por Tatiane da Silva Biolada
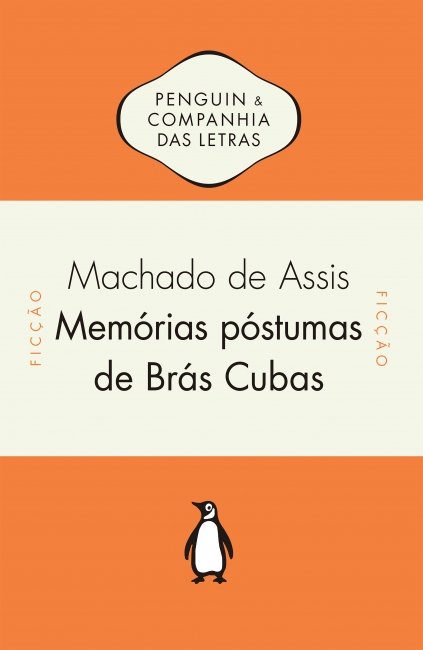
Joaquim Maria Machado de Assis (21 de junho de 1839 – 29 de setembro de 1908) foi um dos maiores escritores da literatura brasileira. Foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e é fundador da cadeira de número 23, a qual escolheu como patrono o autor e amigo a quem admirava, José de Alencar. Machado abrangeu vários gêneros literários, foi jornalista, poeta, cronista, contista, romancista, dramaturgo, crítico literário e folhetinista. Foi autor de romances como Helena, Dom Casmurro e Quincas Borba, e contos como “A cartomante”, “O espelho” e “Pai contra mãe”.
Em 1880, publicou o romance Memórias póstumas de Brás Cubas na Revista Brasileira por meio de folhetim, e no ano seguinte, a obra foi publicada em livro. O romance é considerado o marco inicial do realismo no Brasil e é um divisor de águas na obra do autor, pois marca o começo da fase mais madura dele. O livro é narrado em primeira pessoa, pelo protagonista Brás Cubas. Ele se denomina como um defunto autor, porque ele conta a sua história depois de ter morrido. Ele inicia a narrativa no dia de sua morte, contando que faleceu porque teve pneumonia e não se cuidou corretamente, pois estava focado na sua ideia fixa de criar um emplasto, um remédio que curaria toda a melancolia da humanidade.
“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas.” (ASSIS, 2014, p.27)
Na época, a obra causou um estranhamento entre os leitores, por apresentar esta situação sobrenatural: um morto que decidiu virar escritor. Outra característica em que o livro se diferencia é que Machado fugiu do padrão estético da época ao escrever um romance fragmentado, ou seja, que não é linear como eram os livros até então, com início, meio e fim. Portanto, os capítulos da obra são descontínuos, não seguem uma sequência.
“Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo.” (ASSIS, 2014, p. 31)
Sterne e Xavier de Maistre foram escritores que fugiram das normas literárias da época e influenciaram a obra de Machado. A forma livre que o narrador cita é a descontinuidade e a presença de longas digressões que existem na obra, provocadas por reflexões e explicações do narrador.
Intertextualidade, metalinguagem e interlocução são três elementos que podem ser observados no decorrer de toda a obra. Quanto à primeira, Machado faz alusão a filósofos, imperadores, escritores, obras, eventos históricos, entre outros. A metalinguagem ocorre quando Brás tece comentários sobre o ato de escrever, e a interlocução é a interação do narrador com o leitor.
“Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja-a e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias.” (ASSIS, 2014, p. 41)
Após relatar o próprio enterro, ele conta a visita que recebeu de uma senhora quando já estava doente e acamado e descreve os delírios que teve antes da morte. Então, há uma transição no livro e Brás Cubas passa a contar as etapas de sua vida. Primeiramente, conta sobre seu nascimento e sua infância. Brás foi uma criança muito indisciplinada e mimada. Ele brincava com Prudêncio, um escravo da família, maltratando-o e montando no menino como se ele fosse um cavalo. E na escola, foi amigo de traquinagem de Quincas Borba. Em sua juventude, Brás se apaixonou por Marcela, uma jovem interessada que se aproveitava da paixão que o jovem nutria por ela para conseguir presentes caros. Ao descobrir isso, seu pai enfureceu-se e o mandou para Coimbra para estudar. Alguns anos depois, ele volta ao Brasil quando sua mãe está enferma e ela morre um pouco depois de ver o filho. O pai de Brás arranja um casamento para ele com a jovem Virgília, porém ela prefere casar-se com Lobo Neves. Pouco tempo depois, o pai morre e Brás entra em um conflito com sua irmã Sabina e seu cunhado Cotrim por conta da herança.
A obra de Machado é repleta de críticas sociais à elite dominante do Rio de Janeiro do século XIX e à escravidão. Brás Cubas vem de uma família rica, nunca precisou trabalhar para se sustentar e estava inserido na sociedade burguesa da época. Por meio de Brás, Machado denunciou a burguesia ao mostrar as suas principais características como o exibicionismo, desejo por status, desvio de conduta, pessoas com alma vazia e sem caráter, movidas pela ambição de ter, das aparências e de ser melhor que o próximo. Elencada a esse fator, pode-se notar uma crítica à escravidão, principalmente através de Prudêncio, pois a burguesia mantinha seus luxos e caprichos por meio do trabalho escravo.
“Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obriga a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência.” (ASSIS, 2014, p. 105)
A ironia é um dos traços mais marcantes das Memórias póstumas. Pode ser vista em grande parte da obra, principalmente na ambiguidade de Brás, nos diálogos com o leitor, nos amores, nas críticas e na própria situação de defunto autor. A narrativa é carregada de ironia, a qual está evidente na maior parte do livro, como no amor de Marcela por Brás, que o amou “durante quinze meses e onze contos de réis.” (ASSIS, 2014, p. 84) e na revelação da falsa amizade do amigo que fez o discurso em seu enterro em troca de dinheiro: “Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei.” (ASSIS, 2014, p. 34).
Passado um tempo do casamento de Lobo Neves e Virgília, Brás então a reencontra e os dois se apaixonam, tornando-se amantes. Durante anos eles vivem um amor adúltero, pois Virgília não quer perder o prestígio social ao separar-se do marido. O relacionamento do casal acaba quando Lobo Neves é eleito presidente de uma província e Virgília muda-se com o marido para a outra cidade. Sabina insiste que Brás precisa casar-se e o convence a ficar noivo de Eulália, sobrinha de seu cunhado Cotrim. Porém, a jovem morre antes do casamento por causa da febre amarela.
Machado também faz uma crítica ao romantismo em sua obra ao abandonar e ironizar as características desse movimento literário, como idealização. No romantismo, as mulheres eram retratadas como perfeitas e dotadas de maravilhosas virtudes e beleza física que as aproximavam do divino. Ao contrário disso, Machado descrevia a realidade das feições e jeitos das personagens femininas. O autor também critica sutilmente a idealização de amores, pois além de não ter sentimentalismo exacerbado, o amor era por interesse e adúltero.
“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas […]” (ASSIS, 2014, p. 114)
Depois da morte de Eulália, o protagonista narra seu envelhecimento. Conta que se tornou deputado, porém não teve nenhuma medida relevante em sua curta carreira política. Ao aproximar-se do fim do livro, Brás faz muitas reflexões, principalmente com seu amigo Quincas Borba, o qual inventou uma filosofia. O narrador chegou ao final de sua vida sem ter casado, construído uma família e sem ter feito algo importante. Seus últimos dias são melancólicos, porém tem Virgília ao seu lado no leito de morte.
Em Memórias póstumas, Machado também aborda as temáticas da obra com pessimismo, o qual pode ser percebido na frustração e visão negativa de Brás, no fato de ele não ter conquistado nada em sua vida, na mesquinharia da sociedade, e em muitos outros casos. Esse pessimismo, muitas vezes, é disfarçado pela ironia, assim como Brás comenta que escreveu a obra com a “pena da galhofa e a tinta da melancolia.” (ASSIS, 2014, p. 31). Machado também destaca que a particularidade do defunto autor são as rabugens de pessimismo. O último capítulo, intitulado “Das negativas”, é recheado de pessimismo como o próprio título indica.
“Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. […] Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.” (ASSIS, 2014, p. 356)
O livro tem uma linguagem um pouco rebuscada, portanto não é de fácil leitura. Trata-se de uma obra escrita no século XIX, logo, o vocabulário apresenta termos característicos da época. Além disso, o texto é repleto de intertextualidade, recurso que exige prévio conhecimento das citações feitas por Machado. Porém, é possível ler o livro e compreendê-lo mesmo sem grande conhecimento dos intertextos e da linguagem. Basta pesquisá-los ou procurar uma edição do livro que tenha explicações dos termos desconhecidos ou seja uma adaptação mais atual. O livro é indicado para pessoas que gostam de literatura e do Machado, para quem tem interesse pela literatura brasileira e pelos clássicos. Mas é indicada, principalmente, para leitores maduros.
Memórias póstumas de Brás Cubas tem muitos aspectos inovadores, pois Machado de Assis escreveu o livro sem linearidade, com ironia, pessimismo e cheio de críticas ao romantismo e à sociedade da época. Através dessa obra complexa, o autor foi capaz de fazer uma profunda análise psicológica da condição humana, mostrando a hipocrisia, egoísmo e vaidade que há por trás de atitudes aparentemente boas. Com essas características, Machado se diferenciou dos outros escritores da época, mudou o cenário da literatura brasileira e tornou-se um dos maiores escritores de todos os tempos.
Referências
ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 1. ed. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2014. 366 p.
Veja as postagens mais visualizadas no mês
- Do livro: ‘As borboletas não voam em linha reta’, poemas de Cristina Siqueira (849)
- Belém do Pará e a COP 30: quando a Amazônia fala e o mundo escuta (643)
- “Moçalinda e seus maridos” – Uma história de África por Jeremias A. Muquito (585)
- José Ildone Favacho Soeiro: Poeta Vigilengo (542)
- Marina: guardiã do tempo – por Flávio Viegas Amoreira (527)