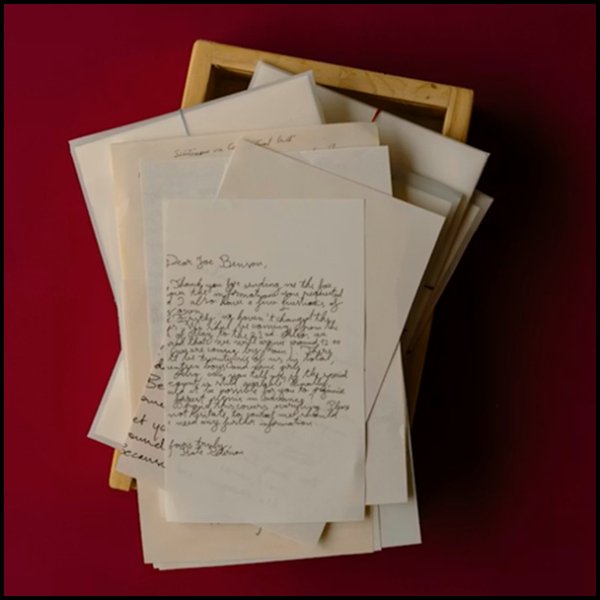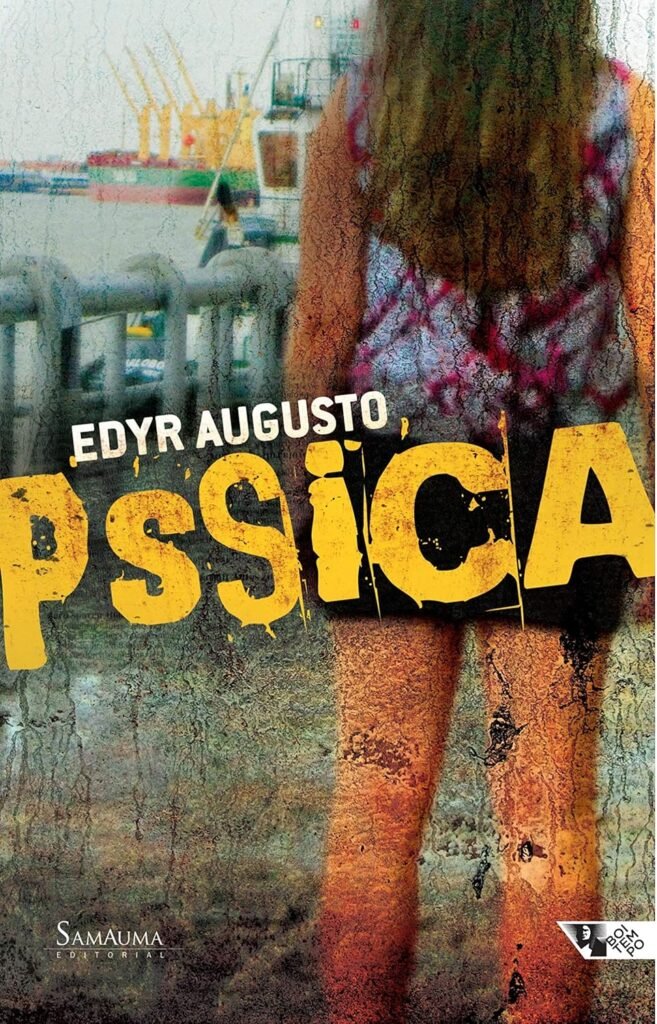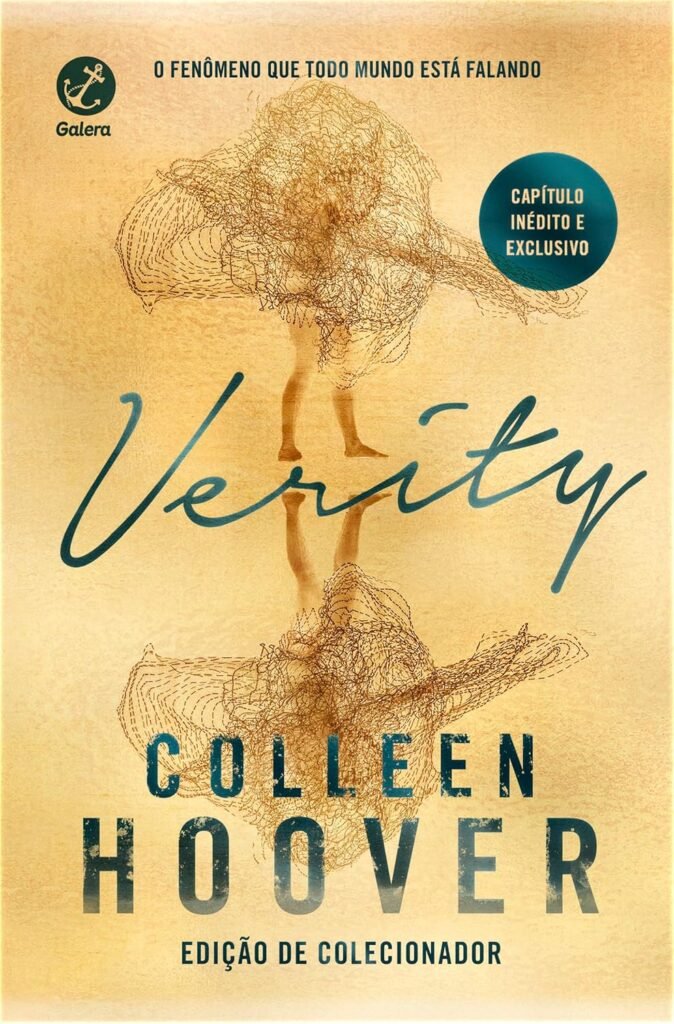O Jardim Marinho
*** * ***

Era uma vez um menino que nasceu cego para as coisas da terra. Só via o mar e o que nele havia. Sabia caminhos nas águas, carreirinhos. Dava nome às ondas, de uma em uma. Dizia: a luz nasce do mar e não dos astros. A claridade lhe chegava do azul, ainda molhada e, depois, flutuarejava nos céus.
Andar em terra enjoava-lhe. Tinha temor de pisar em solo firme, de cair no duro chão. Até o verde terrestre lhe incomodava. O menino não sabia tocar as folhagens, ásperas e secas. Plantas, para ele, eram as algas, escorregadias e ondulantes.
— Quero a minha escola no mar, pai. Em terra não posso.
O pai respondia:
— Há-de ser, filho.
A mãe chorava. Como podia ela ter gerado aquele menino, mais a jeito de ser peixe? E a criança, apalpando o escuro, tocava as lágrimas da mãe e acreditava que ela sorria. No seu entender, água seria sempre sinal da felicidade.
— A mãe contenta-se. São meus dedos que dizem.
A pobre mulher não respondia. Aquele era seu único filho. Para o sustentar ela tivera que trabalhar na cidade. O dinheiro que o marido retirava das pescarias já não chegava. Nem tão pouco. Os três já eram tantos, mais bocas que braços. Quando ela saía para o trabalho, pelas traseiras da casa, o menino se derramava em total despedida. Como se fosse infinita a estrada.
O pai parecia nem dar conta da estranheza de seu filho. Aceitava. Mesmo decidira puxar a cabana mais para junto da rebentação. Prendas que o miúdo lhe trazia: conchas, búzios, brilhos da maresia.
— Será que passa?
Dúvida e angústia da mãe olhando o filho no meio das águas, nadando com despacho de golfinho. Ela sacudia a cabeça, negando-se: em terra o menino não tinha a competência de nem um passo, sequer um. Fora de água, sua visão se apagava. O pai, muitas das vezes, adentrava-se por terra, desafiando o miúdo para vir junto. Mas o filho chorava do escuro onde o mergulhavam.
Com o tempo e como a doença piorasse, a mãe passou a dedicar ódio ao mar. O incansável ruído das ondas já lhe inundava o sono. Ela deixou de dormir, ocupada em sofrer.
— Marido, vamos sair daqui. Vamos no interior.
— E nosso filho?
— Ele se habitua, você vai ver.
Concluía o homem que era impossível, o menino não resistiria. E assim demorou-se o tempo. O menino deu-se de bem crescer, encharcado de azul e sal. Agora, já não era mais criança. Ao fazer do corpo se ajuntava a vontade de ainda mais ser das águas. Um dia, ele:
— Devo ir. Eu pertenço lá.
E apontou o oceano. A mãe escondeu dentro um quase alívio. Mas era uma consolação triste, como se fosse o descanso de um parto falecido. Ela já não o ouvia, ele falava qualquer coisa de ser jardineiro, plantar nas ondas.
— Não chora, mãe. Eu hei-de passar a visitar.
O pai suspirou um longo silêncio.
— Não, filho. Já não vais-nos ver mais. Vou levar tua mãe para longe, ela não pode continuar-se vizinha da água.
Ele dobrou a despedida, perdendo-se no azul inatingível. Os dois velhos ficaram a ver a sua extinção. Quando o Sol ajoelhou a beijar o horizonte, ela pediu ao marido:
— Não vamos partir esta noite. Só amanhã.
O pescador, de silêncio, consentiu. Mas, naquela noite, eles não buscaram o aconchego da cabana. Ficaram, sob os ramos da Lua, olhando o escuro abismo por onde o filho desaparecera, ouvindo os seus passos afogando-se na distância.
Mia Couto
- “Ando feito estátua & outros sonhos noite adentro” – O livro completo do poeta Wilson Guanais
- Parceria entre Ver-O-Poema e o portal Kuarah apresenta “Escrita Implacável”
- O que é poesia? Um espaço vivo de vozes no Ver-O-Poema
- Poetas no Ver-O-Poema | Escritores, vozes e poesia em convivência
- FUGA – Poema de Celso de Alencar [aos irmãos do Pará]
- Quinquilharias – A crônica de Fernando Dezena