Aqui na aldeia, só eu e minha mãe lembramos que o Ararepó ainda existe. Ela sempre fala – Kainã! não vai visitar Ararepó de mão abanando! Ararepó tá muito velho! não dá mais conta de arrancar uma macaxeira ou flechar um peixe! – As mães sempre têm razão…
Hoje, de manhã cedinho, quando ia visitar Ararepó, passei na roça para pegar banana madura, pronta pra comer, e banana açu, querendo amarelar, para a gente comer assada. Eu gosto de comer com Ararepó. Se bem que eu nunca vi Ararepó comer ou beber água. A comida na oca de Ararepó é rústica: tracajá, jabuti, peixe e banana assada em uma fogueira no centro da oca com um fogo lento e morno que nunca apaga. As mãos de Ararepó são rústicas… cinzas… escuras… já estão assadas como um cará roxo… há muito tempo.

O inverno chuvoso de um céu branco teimava em chuviscar por mais de três dias… Cheguei na oca do Ararepó e não vi ninguém… Meus olhos procuravam Ararepó nas sombras sombrias e na rede vazia. Meus olhos não viam ninguém. Deixei as bananas no jirau. Quando dei meia-volta e comecei a andar na direção da saída – me arrepiei – ouvi um choro baixo, miúdo e doído como de um animal ferido…
– Kainã! pensei que tu não vinha, hoje! – a voz rouca de Ararepó emanava do escuro de onde eu sabia que não tinha ninguém…
– Ararepó, tu tava chorando?
– Tava! Sonhei feio, Kainã!
– Um pajé, velho como tu, já viu de um tudo. O quê tu viu neste teu sonhar pra colocar tanta tristeza, nesse teu chorar tão dolorido?
– Kainã… O sonho foi feio! E o que eu sonho de noite, tu sabe, vira verdade de dia!
– Ararepó, conta logo o que tu sonhou, pra teu sonho perder efeito e não virar verdade.
– Não tem jeito, Kainã! Ser pajé é uma dádiva divina, mas é também uma condenação de Tupã! Ontem sonhei que das lonjuras, de onde o céu e o chão se encontram até ao centro da aldeia Asurini Araweté, amontoava muita nuvem, muita chuva no céu, o vento parava e o calor invadia tudo e não caía uma gota d’água… Só caíam agouros e quebrantos nas nossas cabeças… E antes da floresta e da gente morrer de sede, o verde vivo das folhas das árvores perdia a vida, ficava cinza. As águas do rio Xingu e dos igarapés viravam areia e as coceiras brabas tomavam conta da nossa pele. O leito seco do rio virava uma cobra infinita de areia. Eu vi, Kainã! A maior canoa feita por um parente Asurini – presa na tabatinga rachada – desguiada da sua função de flutuar, na espera com paciência, da sua vez de virar pó. Vi também um boto encalhado em si mesmo, desguarnecido de lenda e encantaria, esquecido na areia quente. Ele sabia. Dele, não ia restar nem lembrança… talvez, só o pitiú, que ninguém mais ia sentir.
– Ararepó, tu acha que isso tudo vai virar verdade?
– Vai! Mais cedo ou mais tarde! Não vai ter reza de maracá, nem remédio de ervas poderosa que cure ou mude esse fim. Não quero tá aqui quando isso acontecer. Kainã! Eu já tinha te falado: quando a água do rio Xingu virasse tudinho areia, a floresta seca ia virar um mundo de fogo e os parentes Asurini tinham que fugir para o leito seco e todos iam morrer cozidos nas últimas poças de água existentes. Não quero ter olho aberto para ver o, tão triste, fim da nação Asurini!
Ararepó emergiu da escuridão de onde falava e, flutuando de pé, rente ao chão, deslisou até a porta da oca e, com os olhos quase fechados, apontou pro céu… – Kainã! A chuva tá amiudando e o céu tá ficando azul. Os curumins já vão brincar no rio. Corre, Kainã! Vai brincar que hoje ainda não é o fim do mundo!


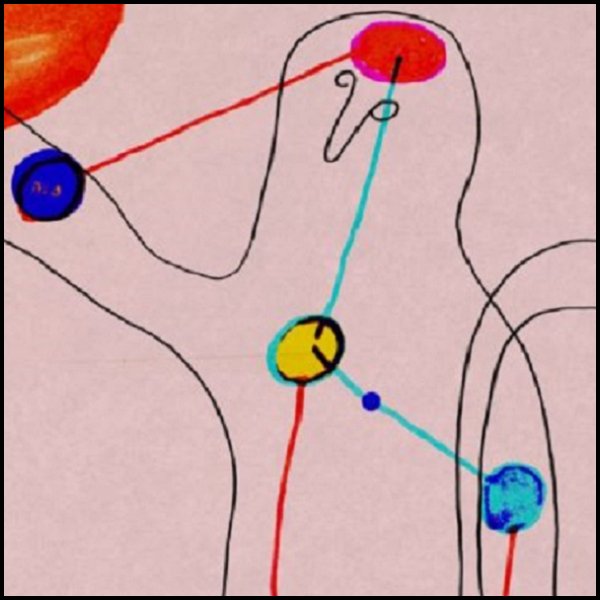

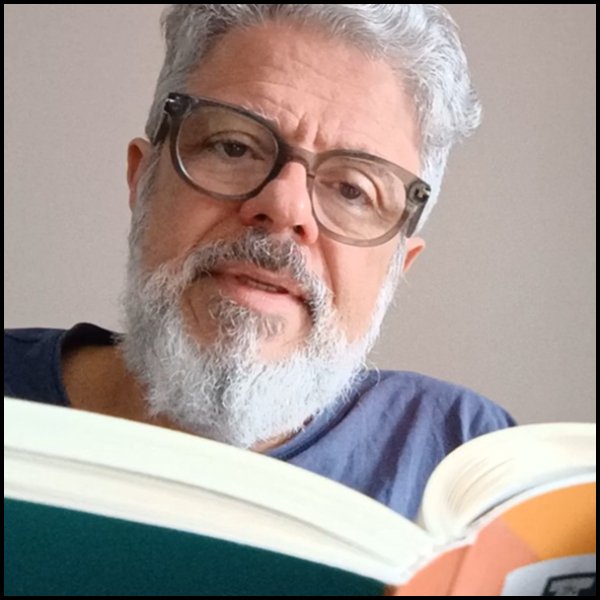





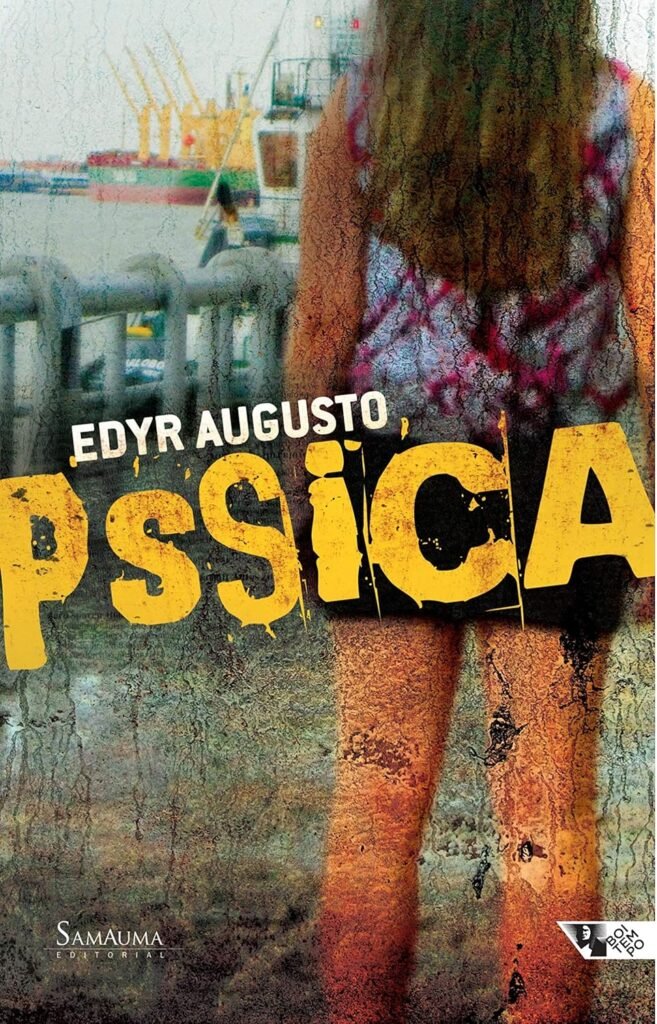
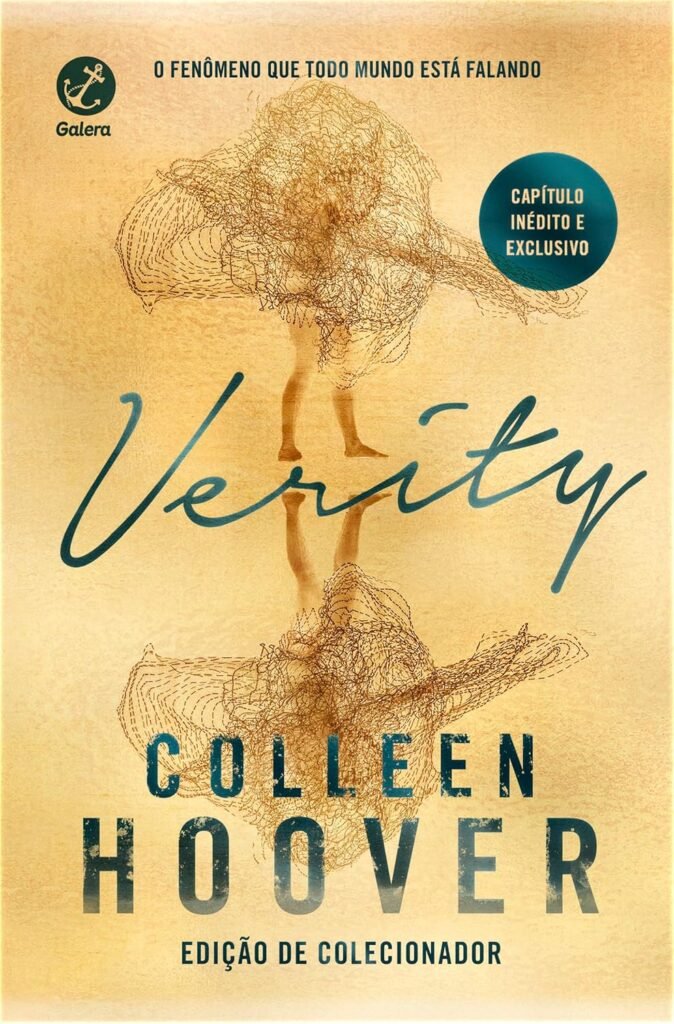




Coisa boa de ler!
Que lindo ler esse romance!
Que coisa linda! Parabéns pela linda escrita, tão nossa!🌹